EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL EM NÍVEL NACIONAL
Por: Terezinha Pereira de Vasconcelos – Doutoranda em Ciências Jurídcas e Sociais pela UMSA
terezinhavasconcelosadv@hotmail.com
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como tema: Evolução Histórica da Função Sócio Ambiental da Propriedade Rural em Nível Nacional. Seu aparecimento na legislação pátria parece ser uma resposta à ação de grupos de camponeses pela democratização do uso da terra, a partir da desapropriação de imóveis mal utilizados por seus proprietários. Tem como objetivo principal trazer à baila a questão concernente à propriedade sob uma nova perspectiva, qual seja, a de atingir a função não apenas social propriamente dita, mas também ambiental.
O tema é de suma importância e ainda enseja uma maior atenção, pois apesar de ser mencionado em várias doutrinas agraristas, estas se resumem à função social, sem na sua maioria dedicar um estudo mais aprofundado sobre a questão da função sócio-ambiental. Para seu melhor delineamento foram feitas análises de doutrinas e de legislações esparsas, envolvendo o direito agrário, direito ambiental, a Constituição Pátria de 1988, assim como outras legislações, chegando a englobar normas de direito público e de direito privado. Artigos de revistas jurídicas e da internet também foram utilizados, sempre buscando a melhor compreensão que circunda a função sócio-ambiental da propriedade rural.
Trazido com maior clareza pela Constituição Federal de 1946, a função social da propriedade foi amplamente disciplinada pelo Estatuto da Terra, direcionado à propriedade rural, sendo posteriormente reforçado com a Constituição Federal de 1988, que cuidou de diferenciar a função social da propriedade rural da propriedade urbana.
Erroneamente foi propagada a idéia de que a propriedade para ser plena deveria apenas ser produtiva, deixando de lado a questão dos problemas sociais no cerne trabalhista, e ambientais com suas devidas conseqüências. Após inúmeros incidentes que afetaram de maneira significativa o meio ambiente, vários congressos e encontros foram realizados mundialmente fazendo surgir uma consciência nos legisladores pátrios e em toda população.
Baseado em idéias trazidas pela adesão à Carta de Punta DeI Este, o Brasil começou a reagir, repensando a questão da reforma agrária e extinção de latifúndios e minifúndios, momento este em que foi criada a Lei n° 4.504 de 1964, Estatuto da Terra. Este estatuto preceituou em seu artigo 2°, § 1°, a necessidade da função social da propriedade. Posteriormente, a Carta Constitucional trouxe semelhante disposição no artigo 186, preceitos estes que foram repetidos na Lei n° 8.629 de 1993.
Assim para a propriedade rural cumprir sua função social haverá a necessidade de conciliação da exploração econômica, respeito às normas trabalhistas e preservação do meio ambiente.
O novo Código Civil ao disciplinar acerca da propriedade rompeu com o caráter absoluto presente neste direito, introduzindo em seu artigo 1.228, § 1°, a necessidade do atendimento à função social, fazendo menção à função sócio-ambiental ao preceituar que este direito deve ser exercido em conformidade com a flora, fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, evitando assim, a poluição do ar e das águas.
Destaca-se a apreciação da Lei n° 9.985 de 2000, que surgida com o intuito de regular a Constituição Federal criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, trazendo limitações a certas propriedades.
Visando melhor compreensão acerca do tema inicia-se o presente trabalho com a análise de conceitos da propriedade insculpidos ao longo da história, passando-se a propriedade rural em âmbito nacional e seu disciplinamento nas Constituições Federais. O intuito é de mostrar as bases fundiárias, para que através deste enfoque, possa-se chegar a uma melhor compreensão da atual propriedade.
Posteriormente, relaciona-se o artigo 5°, incisos XXII e XXIII c/c o artigo 186 da Atual Carta Magna, mostrando a legitimação ao direito de propriedade visto como garantia fundamental, desde que alcance a função social, considerando para este fim, as leis vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Deu-se destaque à desapropriação com fins de interesse social e a reforma agrária como uma verdadeira forma sancionatória ao proprietário que não alcança a já mencionada função social.
Por fim adentra-se no tema proposto, enfocando o meio ambiente, suas problemáticas e tentativas de resoluções, comentando o artigo 186, inciso II da Constituição Federal.
2 O DIREITO DE PROPRIEDADE
O direito de propriedade, como afirma Caio Mario da Silva Pereira (apud LEAL, 1981, p. 7) “é pedra de toque dos regimes jurídicos e dos regimes políticos. É através de sua análise que se pode apurar a tendência de um poço num determinado momento de sua evolução jurídica”.
Fustel de Coulanges (2006) em sua obra Clássica “A Cidade Antiga”, através de uma compreensão subjetiva, deu ênfase aos aspectos mais voltados à cultura religiosa ao defender que a idéia de propriedade privada se fundava na própria religião. Em sua análise, cada família possuía o seu lar e os seus antepassados que eram adorados e protegidos exclusivamente por esta família. O local onde eram enterradas as pessoas das famílias também era identificado como sagrado, pois os mortos eram considerados divindades e cada núcleo familiar possuía um altar para seus deuses. Tanto o solo onde se localizava o altar como o solo onde eram enterrados seus antepassados era propriedade daquela determinada família.
Há três coisas que, desde as mais antigas eras, encontram-se fundadas e solidamente estabelecidas nas sociedades grega e itálica: a religião doméstica, a família, o direito de propriedade; três coisas que tiveram entre si, na origem, uma relação evidente, e que parecem terem sido inseparáveis. A idéia de propriedade privada fazia parte da própria religião. Cada família tinha seu lar e seus antepassados. Esses deuses não podiam ser adorados senão por ela, e não protegiam senão a ela; eram sua propriedade exclusiva. (FUSTEL DE COULANGES, 2006)[1]
Saindo da perspectiva do direito de propriedade como um direito natural, Engels analisa na obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado” (1982), sob um enfoque sócio-econômico, a relação intrínseca entre a concepção de lar e o surgimento da propriedade, que passaram do caráter público e coletivista ao privado e individualista.
Engels explica que nas sociedades primitivas as relações de parentesco eram coletivas, assim como a apropriação da terra, já que todos permaneciam no mesmo núcleo familiar.
Entretanto, no decorrer da história, o lar passou a ter uma concepção privada, a propriedade foi delimitada e surgiram direitos relacionados à sucessão patrimonial. Estruturou-se, então, a família monogâmica, que tem como base o predomínio do homem e a exigência da fidelidade exclusiva da mulher. Ao homem era reservado o direito à infidelidade conjugal, já os filhos gerados fora do matrimônio, não eram reconhecidos e não tinham direito à herança.
É importante perceber que o enraizamento do patriarcalismo e da família individual monogâmica transformou a concepção de lar e de família na sociedade. Transcrevendo Engels, “o governo do lar perdeu seu caráter social. A sociedade já nada tinha mais a ver com ele. O governo do lar transformou-se em serviço privado; a mulher converteu-se em primeira criada, sem mais tomar parte na produção social” (ENGELS, 1982, p.80).
A propriedade privada substituiu a coletiva e as relações de parentesco passaram a depender inteiramente de questões econômicas. “Ao transformar todas as coisas em mercadorias, a produção capitalista destruiu todas as antigas relações tradicionais e substituiu os costumes herdados e os direitos históricos pela compra e venda, pelo livre contrato” (ENGELS, 1982, p. 86).[2]
Portanto, a propriedade adquiriu um novo significado, pautado na família monogâmica, que serviu como base histórica e filosófica para a regulação do direito individual de apropriar-se da terra e dos meios de produção, que juntamente com o capital e a divisão do trabalho, formam os elementos da economia capitalista e do direito privado.
Partindo deste entendimento, analisaremos a origem da propriedade e seus significados numa perspectiva pública e privada, construindo uma breve análise histórica da evolução do direito à propriedade desde o império romano à Constituição brasileira de 1988.
2.1 A evolução histórica da concepção de propriedade
Para compreender melhor a evolução da concepção de propriedade individual e absoluta com raízes no feudalismo até a concepção de função social da propriedade das constituições atuais, analisamos os principais sistemas econômicos, partindo do significado da propriedade em cada um deles. É necessário ressaltar que foi dessa transformação que o direito de propriedade deixou de ser objeto de estudo somente dos civilistas, passando a ser também discutido em esfera constitucional e administrativa.
Na Antiguidade, em específico na Idade Antiga e Média, o ser humano nada representava fora da comunidade (polis), sendo considerado pela sua posição social. Não existiam direitos subjetivos individuais oponíveis ao Estado, bem como não era admitido idéias que valorizassem a liberdade do indivíduo, que se limitava a liberdade da comunidade, estando o indivíduo e seu patrimônio completamente vinculados ao Estado.
Contudo, no ordenamento jurídico romano, a propriedade era considerada como um direito absoluto, perpétuo, oponível erga omnes e exclusivo de seu titular, que poderia dela dispor com plenitude.
Foi o Direito romano que estabeleceu um complexo mecanismo de interditos visando tutelar os direitos individuais em relação aos arbítrios estatais. A Lei das doze tábuas pode ser considerada a origem dos textos escritos consagrados da liberdade, da propriedade e da proteção aos direitos do cidadão. (MORAES, 2001, p. 7)[3]
Com as invasões dos povos bárbaros nas províncias romanas e o conseqüente declínio deste Império, instituiu-se um sistema senhorial que representava a essência do feudalismo. No Estado feudal, o poder concentrava-se na mão do monarca, o Estado era o rei e este estava vinculado ao Papa. Ou seja, Estado e religião seguiam juntos, impondo a separação entre suserano e vassalo.
O vassalo era responsável por cultivar as terras e, em contrapartida, poderia utilizá-las para moradia e subsistência, recebendo proteção do senhor feudal, não sendo possível vendê-las ou transmiti-las aos descendentes. Para Miranda (2005), a relação feudal era um vínculo pessoal e vitalício fundado na dominação de quem detinha a terra sobre a subordinação de quem dela necessitava.
Todavia, apesar da rigidez característica da época, alguns documentos apontavam de forma tímida para a limitação do poder estatal sobre o indivíduo. O principal documento da época foi a Magna Carta ou Magna Charta Libertatum, datada de 1215, na Inglaterra, outorgada pelo rei João Sem Terra.[4]
Ao comparar o sistema feudal com o Direito Romano, pode-se observar que, enquanto neste, o homem era o proprietário absoluto da terra, naquele a terra se apropriou do homem, já que os servos eram meros acessórios quando a terra era vendida. Essa relação com a propriedade permaneceu até o surgimento de novos meios de produção de bens, da divisão do trabalho, da produção massificada, do aumento de rotas comercias em distintas regiões, do fortalecimento do comércio e da formação de cidades, gerando a estrutura econômica do capitalismo, com o qual a terra deixou de ser o principal, e praticamente único meio de dominação e status social.
Foi no século XVI, com o advento do mercantilismo, que o Renascimento e a Reforma Protestante contribuíram para a queda dos valores medievais e, conseqüentemente, para o fim do feudalismo e a criação do Estado Nacional. Esses movimentos valorizavam a razão humana e a ciência, dando origem ao Iluminismo, surgido a partir do século XVII e com apogeu no século XVIII, o Século das Luzes.
Os iluministas defendiam uma visão antropocêntrica dos acontecimentos, em contraposição à teocêntrica medieval, encarando o homem como um ser livre e dotado de direitos. Contudo, esse antropocentrismo não significava a total negação de Deus, posto que os iluministas, de maneira geral, acreditavam Nele e em suas leis naturais.
John Locke, pensador do Iluminismo, defendia o jusnaturalismo abstrato, ou seja, racionalista, para o qual existia uma lei natural imposta a todos. O jusnaturalismo teve inúmeros defensores, que compartilhavam o entendimento de que os princípios fundamentais do direito são imutáveis e aplicáveis a todos os indivíduos, independente de lugar ou época.
Outros pensadores iluministas foram Rousseau[5], Voltarie, Montesquieu e Kant, para os quais, resumidamente, os homens nascem bons e iguais, sendo corrompidos pelas injustiças e opressões impostas pela sociedade. Assim, os homens deviam buscar sua liberdade pessoal e sua autonomia perante o Estado, assegurando a propriedade privada e a garantia de que o proprietário pudesse usar e dispor livremente de seus bens. Rousseau, em sua obra “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, de 1755, expõe neste sentido ao afirmar que, “não passando o direito de propriedade de convenção e instituição humana, todo homem pode à vontade dispor do que possui; mas não acontece o mesmo com os dons essenciais da natureza, tais como a vida e a liberdade” (2007, p. 79).
Neste período, o capitalismo surgiu vorazmente na Europa, trazendo consigo novas técnicas de produção, posteriormente chamada de Revolução Industrial, bem como a ascensão da burguesia ao poder e o aprimoramento das ciências naturais.
O capitalismo caracteriza-se por ser um sistema de organização econômica baseado,exatamente, na propriedade privada dos meios de produção. O capital, que para Marx (2005) engloba, além da terra, máquinas, instrumentos, fábricas, matérias primas e moeda, é essencialmente propriedade privada de alguém.
Os povos nômades foram os primeiros a desenvolver a forma dinheiro, porque todos os seus bens e haveres se encontram sob forma de bens móveis, e, por conseguinte, imediatamente alienáveis. Além disso, seu gênero de vida os põe com freqüência em contato com sociedades estrangeiras e os leva, por isso mesmo, a trocar seus produtos. Constantemente, os homens fazem do próprio homem, na pessoa do escravo, a matéria primitiva do seu dinheiro. Mas isso jamais aconteceu com o solo. Tal idéia só podia nascer numa sociedade burguesa já desenvolvida. Ela data do último terço do século XVII, e sua realização só veio a ser experimentada em larga escala, por uma nação inteira, um século mais tarde, na Revolução Francesa, em 1789. (MARX, 2005, p. 33)[6]
Faz-se importante enfatizar que a primeira fase do Estado Moderno foi o absolutismo[7], entre os séculos XVI e XVIII, surgido há cerca de 500 anos na Europa Ocidental, notadamente na França e na Inglaterra.
Ironicamente, ao passo que o Renascimento, com as idéias do movimento iluminista, separou o homem do divino, o Absolutismo retornava a teoria do poder divino dos reis. Uma das características marcantes do Estado Absolutista foi a centralização do poder nas mãos do rei, que se desvinculou do Papa, recebendo seu poder diretamente de Deus.O Direito Natural era, neste período, de domínio dos teólogos cristãos, possuindo, conseqüentemente, origem divina. A Igreja católica, através de sua doutrina social, tratava do direito de propriedade fundamentando-se em valores morais, como a consciência do proprietário. Desta forma, não discutia aspectos jurídicos ou econômicos, apegando-se à idéia de direito natural de propriedade. Conforme assinala Miranda (2005), a doutrina em questão “era a fundamentação filosófica da justiça social e a consagração do direito à propriedade, ou 12seja, todos têm direito de ser proprietário, conforme estruturação teórica do iluminismo[8] e sedimentação com a Rerum Novarum”.[9]
Diferente da Idade Média e do Estado Absolutista, na qual o direito natural era vinculado à vontade de Deus e à religião, a partir da escola de Direito Natural de Hugo Grócio (Do Direito da Guerra e da Paz, 1625), ele passa a ser vinculado à razão. O Direito Natural seria, então, uma decorrência da existência humana, independente da existência ou não de Deus.
Maquiavel usou pela primeira vez, na obra “O Príncipe”, o termo “Estado”, antes referido como “polis”, “comunidade” e “sociedade política”. Em continuidade, Hobbes evoluiu essa teoria, amparando o poder dos reis no contrato social e não mais em Deus. Era a teoria contratualista do Direito e o Estado de Sociedade, na qual o surgimento do Estado, do Direito e da sociedade tinha como núcleo o contrato social ou o pacto político, que possuía como base a vontade dos indivíduos.
Sem entrar, hoje, nas pesquisas que ainda estão por fazer, sobre a natureza do pacto fundamental de todo governo, limito-me, segundo a opinião comum, a considerar aqui o estabelecimento do corpo político como um verdadeiro contrato entre o povo e os chefes que ele escolhe; contrato pelo qual as duas partes se obrigam à observância das leis nele estipuladas e que formam os laços da sua união. (ROUSSEAU, 2007, p. 79)
Rousseau, escritor de “O Contrato Social”, juntamente com demais intelectuais franceses, possuiu grande influência no surgimento da Revolução Francesa (cujo lema era: liberdade, igualdade e fraternidade) e, em especial, em documentos como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), a Constituição francesa de 1791 e o Código Civil Napoleônico de 1804.
Mesmo apesar de não avançar no significado filosófico do direito à propriedade, a doutrina considera a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Revolução Francesa como marcos ao consagrá-lo como um direito natural, inalienável e sagrado do ser humano. A Declaração assim expõe:
Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização.
Entretanto, a Revolução Francesa não alterou a concepção filosófica da propriedade advinda do direito romano, mudando apenas o titular deste direito da nobreza e do clero para burguesia (MIRANDA, 2005).
O Absolutismo passou assim por desgastes, fortalecendo o Liberalismo[10], corrente econômica do Iluminismo, que se deu em conjunto ao processo de produção capitalista. No período liberal, notadamente no século XVIII, fazia-se a distinção entre Estado, sociedade e indivíduo, materializando a liberdade através da contemplação dos direitos individuais e da abstenção do poder estatal. Nasciam os direitos de primeira dimensão, com a positivação dos direitos civis e políticos. Eram os direitos advindos da valorização da liberdade do ser humano.
Apesar da idéia dos direitos naturais terem origem grega, com a Antígona, Locke difundiu o jusnaturalismo e a defesa de que os direitos naturais precisam ser positivados e aceitos pelos Estados, direitos esses inerentes à pessoa humana: vida, propriedade e liberdade. Compreendia também que esses direitos eram universais e aplicavam-se a todos, indiscriminadamente (universalização dos direitos naturais).
Locke defendia o Estado Mínimo, que deveria ter o menor poder possível (oposto de Hobbes) e que garantisse maior liberdade ao indivíduo contra os abusos do Estado e de outros indivíduos. Um Estado Liberal (segunda fase do Estado Moderno e originador da idéia de Estado de Direito) que se opusesse ao Estado Absoluto.
Faz-se importante saber que o liberalismo de Locke era, sobretudo, político-contratual, em paralelo ao liberalismo econômico de Adam Smith, que contrapunha Estado e mercado. Segundo Luiz Carlos Bresser-Pereira (2004):
O liberalismo, enquanto originalmente uma ideologia burguesa, está interessado na proteção das liberdades; o liberalismo econômico, na garantia dos direitos de propriedade e dos contratos; o liberalismo político, na igualdade de todos os cidadãos e na liberdade individual.
A obra “A Riqueza das Nações”, de Adam Smith, 1776, consagrou o liberalismo econômico, teoria política que defende a mínima intervenção estatal, já que a produção, a distribuição da renda e a remuneração do trabalho seriam equilibradas pela livre concorrência e pela regulação do próprio mercado. À época, a doutrina de Adam Smith gerou uma euforia social propagando a idéia de que desenvolvimento industrial, a divisão do trabalho e o liberalismo iriam aumentar a produtividade e o crescimento da economia, desencadeando, como conseqüência natural, o desaparecimento da pobreza.
Em contrapartida ao liberalismo, surgiu a necessidade de um sistema de proteção estatal que regulasse o abuso econômico. Isso porque, para Karl Marx (2001, p. 55), no Estado Liberal a idéia de igualdade e liberdade é baseada pelo acúmulo de capital, na qual “os membros da sociedade só são desiguais na medida que são seus capitais”.
Assim, o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, defendia a abolição do direito de propriedade. Eles defendiam que a propriedade não poderia ser entendida como mercadoria, já que se tratava de um bem de produção, devendo servir de instrumento para alcançar a igualdade material, superando a idéia de igualdade formal advinda das revoluções liberais.
Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. Mas, em vossa atual sociedade, a propriedade privada já está abolida para nove décimos de seus membros; ela existe precisamente porque não existe para esses nove décimos. Censurai-nos, portanto, por querer abolir uma propriedade cuja condição necessária é a ausência de toda e qualquer propriedade para a imensa maioria da sociedade. Numa palavra, censurai-nos por querer abolir vossa propriedade. De fato, é exatamente isso o que queremos. (…) Essa concepção interesseira, que vos leva a transformar em leis eternas da natureza e da razão as vossas relações de produção e de propriedade – relações históricas que desaparecem no curso da produção – é, por vós compartilhada com todas as classes dominantes já desaparecidas. O que compreendeis para a propriedade antiga, o que compreendeis para propriedade feudal, já não podeis compreender para propriedade burguesa. (MARX, 2001, p. 62-63)
Marx criticava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão[11], exatamente pela separação dicotômica entre homem e cidadão que ela traz. Para ele, tal separação demonstrava nada mais que a distinção de classes, pautada, por sua vez, no acúmulo de bens e na propriedade privada, sendo os direitos do cidadão um privilégio político burguês, do qual era excluída a classe operária.
Os séculos XIX e XX vislumbraram, então, a terceira fase do Estado Moderno, o Estado Social ou a social-democracia, na qual o mínimo existencial (saúde, educação, moradia etc) deveria ser garantido por um Estado intervencionista. Surgia a segunda dimensão de direitos, os econômicos, sociais e culturais, amparados na noção de igualdade social, que foram resultados dos efeitos da Revolução Industrial sobre a massa dos trabalhadores operários e do aprofundamento das desigualdades em decorrência da concentração de riquezas nas mãos da burguesia.
Essa dimensão de direitos, cuja adesão foi reforçada após a Primeira Guerra Mundial, tem como titular a coletividade e pressupõe uma atuação positiva por parte do Estado, sendo decorrente do confronto entre liberalismo e socialismo.
Muitas foram as Constituições que incorporaram os direitos sociais em seu texto, a exemplo da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919, consideradas marcos na elevação da teoria da função social da propriedade à categoria de princípio jurídico constitucional. As duas cartas políticas consagraram que a propriedade deve satisfazer ao bem da coletividade, tendo influenciado fortemente a Constituição brasileira de 1934.
A Constituicíon Politica de los Estados Unidos Mexicanos [12]previa, em seu artigo 27, a distinção entre a propriedade originária, pertencente ao Estado, e a propriedade derivada, pertencente aos particulares. Com efeito, aboliu o caráter absoluto e pleno da propriedade privada, condicionando seu uso ao interesse da coletividade e atendendo aos fundamentos da reforma agrária.
Articulo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada.
Isto por que o México, à época, passava pela chamada Revolução Mexicana, cuja bandeira de luta pautava-se na democracia e na reforma agrária, englobando diversos interesses, tanto burgueses quanto camponeses, contra o regime do Gen. Porfírio Diaz, dando origem, por conseguinte, à Constituição. Neste período eclodiu também a Revolução Russa, de 1917, liderada por Lênin e caracterizada por ser notadamente proletária e socialista, num momento em que o povo passava por miséria e pobreza.
Lênin, entre outras medidas, redistribuiu as terras aos trabalhadores do campo e passou a administração das fábricas aos trabalhadores urbanos, mudando, assim, o caráter da propriedade dos meios de produção de individual para coletivo, em prol do desenvolvimento comum. Tinha como uma das tarefas mais importantes da revolução socialista “derrotar o capitalismo e estabelecer a ditadura do proletariado, onde todos os meios de produção fossem controlados pelos trabalhadores, assim como os meios de comunicação, as escolas e os bancos” (BOGO, 2005, p. 130).
Com a crise do Estado Liberal e a I Guerra Mundial, teve lugar os pensamentos antiliberais e os Estados totalitários, com práticas que reprimiam as liberdades individuais. Anos depois, a II Guerra Mundial, somada aos vastos relatos de violação dos direitos humanos na grande guerra anterior, inspirou a elaboração, pelas Nações Unidas, da Declaração Universal de Direitos do Homem de 1945, considerada um dos mais importantes documentos da história dos direitos humanos e contempladora do direito à propriedade em seu artigo 17:
Artigo 17
I) Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.
II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.
No Brasil, a proteção do interesse coletivo sobre o individual no referente ao direito de propriedade tornou-se relevante a partir da Constituição Federal de 1934, avançando na interpretação doutrinária e jurisprudencial e nas leis infraconstitucionais, como o Estatuto da Terra, até chegar à concepção de propriedade disposta na Carta Política de 1988[13] e no Código Civil de 2002.
3 PROPRIEDADE RURAL NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E SEUS REFLEXOS
A propriedade rural, sob a ótica nacional, começou a ganhar contornos que refletem até hoje na estrutura fundiária, a partir de 1494, ano este em que foi firmado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Do teor de tal tratado chegava-se a conclusão de que todas as terras descobertas e as que por ventura viessem a ser descobertas pertenceriam a essas duas nações, sendo traçada uma linha imaginária determinando que as terras à direita fossem de Portugal, por conseqüência, as da esquerda pertenceriam à Espanha[14].
No entanto, a realidade se mostrava diferente, pois as terras se assemelhavam a uma grande fazenda, só passando a ser assumidos os seus domínios em 1531, com Martim Afonso de Souza, permanecendo estáticas até aproximadamente 1822, ano em que foram repassadas ao patrimônio nacional, sendo mais tarde, com a Constituição Federal de 1891, transferidas aos Estados-Membros.
Dentro deste diapasão, formou-se a estrutura agrária nacional. Portugal, ao se deparar com sua nova colônia, percebeu que não se tratava de uma simples ilha, pois necessitava de altos investimentos por sua grande extensão e reprimenda a uma possível invasão de outras potências estrangeiras. Com base nestes fatos, foi instituído o sistema de sesmaria, pelo qual seria deferido o domínio útil àqueles que na propriedade habitassem para que aproveitassem de maneira adequada, sob pena de serem oferecidas a outros cidadãos quando não explorada pelo prazo máximo de dois anos. Com a falência desta sistemática foram introduzidas na colônia as capitanias ou donatários hereditárias, que em nada se afastou das sesmarias, apenas introduziu algumas modificações. Tais capitanias eram outorgadas sob uma verdadeira forma de mandato pela Coroa, visando sempre um rentável aproveitamento de terras, impondo aos destinatários das cartas de sesmarias, o pagamento de um “Dízimo de Deus” pela produção nas terras e carregamentos de pau-brasil[15], vigorou nos anos de 1532 a 1549, posteriormente desaparecendo por sua inviabilidade prática.
Assim, ao se analisar o processo de colonização brasileiro, chega-se a perceber as inúmeras falhas ocasionadas pela implantação do sistema sesmarial português em terras nunca antes exploradas. Inicialmente, destaca-se que este sistema segundo as Ordenações Filipinas era destinado a terras antes cultivadas e posteriormente tornadas inaproveitáveis, além de que, por se tratar de uma concessão visando privilégios, fez-se instituir inúmeras propriedades improdutivas, verdadeiros latifúndios, em detrimento de pequenas propriedades exploradas por única pessoa ou por sua família, à margem da legalidade, desencadeando problemas sócio econômicos.
Com o advento da Resolução 17 de 1822, foi “teoricamente” extinto o regime de sesmarias, não·extinguindo, contudo, a concessão de terras devolutas a pessoas determinadas. Vigorou as Ordenações do Reino até 1824, momento este em que surgiu a Constituição Imperial. Apenas, em 1850, foi editada a Lei n° 601, chamada Lei de Terras, que visava primordialmente estabelecer os limites das propriedades imóveis classificando-as em domínio público ou privado; regularizar a situação das sesmarias; estabelecer posses e ocupações, trazendo como grande inovação o instituto das terras devolutas. Vale ressaltar que até a entrada em vigor desta lei, o período de 1822 a 1850, ficou sem nenhuma regulamentação jurídica, visto que a legislação sesmarial não mais vigorava, sendo conhecida essa fase como extralegal ou fase das posses.
Posteriormente, surgiu a Lei nº4. 504 de 1964, Estatuto da Terra, sendo esta a lei básica do direito agrário brasileiro, inspirado na Carta de Punta Del Este, subscrito pelo Brasil, em que se reconheceram os problemas fundiários existentes e se comprometeu internacionalmente à realização da reforma agrária e à extinção dos latifúndios e minifúndios.
3.1 O Direito à Propriedade Agrária e às Constituições Federais Brasileiras
Cabe destacar que as Constituições Federais Brasileiras, sempre resguardando alguns dispositivos que tratavam da propriedade, a situaram dentro do parâmetro legal, ora dando maior regramento, vinculando a sua exploração, ora silenciando acerca dos limites de uso.
A Constituição Imperial de 1824[16], tratou da propriedade de maneira geral apenas destacando a possibilidade de desapropriação por uti1idade púb1ica, no entanto, a nada condicionou o seu exercício.
A Constituição Republicana de 1891, por seu turno, em seu artigo 72, incluso no capítulo da “Declaração dos Direitos”, continuou a assegurar o direito pleno à propriedade, excetuando a desapropriação por necessidade ou utilidade pública mediante uma prévia indenização,
Na mesma linha de pensamento da Constituição Republicana, a Constituição Federal de 1934 assegurou também o direito à propriedade, trazendo uma grande inovação por restringir o seu uso e exercício ao interesse social ou coletivo, tendo-se inspirado no pensamento de León Duguit que defendeu a função social da propriedade.
O retrocesso se deu com a Constituição Federal de 1937, que nada falou sobre a função social da propriedade, enunciando em seu artigo 122, cláusula 14, constante no Capítulo “Dos Direitos e Garantias Individuais”, a desapropriação por utilidade ou necessidade pública mediante prévia indenização, remetendo o seu conteúdo e limites às leis que regularizavam o seu exercício,
Inspirado pelos pensamentos democráticos, a Constituição de 1946 deu um grande avanço no conceito e uso da propriedade quando, em seu artigo 141, garantiu a inviolabilidade do direito à propriedade e, em seu § 16, trouxe os institutos da desapropriação e da requisição. Trouxe também em seu artigo 147, presente no Capítulo “Da Ordem Econômica e Social”, o dever de condicionamento da propriedade ao bem-estar social. A Emenda Constitucional nº1/69, por seu turno, dispondo “Dos Direito e Garantias Individuais”, no artigo 153, § 2°, assegurou o direito de propriedade, ressalvando a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, assim como, para fins de reforma agrária. Determinou também, em seu artigo 160, inciso III, o princípio da função social visando o desenvolvimento nacional e a justiça social.
Por fim, a atual Carta Magna de 1988[17] situou a propriedade dentro do artigo 5°, inciso XXII, dando à mesma, contornos de direito fundamental. No entanto, abriu uma ressalva neste artigo, em seu inciso XXIII, por condicionar tal proteção ao atendimento da função social. O artigo 60, §4°, inciso IV, trouxe as chamadas cláusulas pétreas, vedando ao constituinte derivado, suprimir a redação prevista nos direitos e garantias individuais, estando presente nestas, a propriedade. Situou a propriedade várias vezes em seu texto, tratando do tema ao longo de seus artigos, dando ênfase ao Capítulo III, do Título VII “Da Ordem Econômica e Financeira”, mais precisamente no artigo 186, aos requisitos que devem ser atendidos simultaneamente pela propriedade rural para que venha a ter a proteção legal.
4 FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL
Visando melhor delineamento acerca da função sócio ambiental da propriedade rural, deve ser analisado o conceito de meio ambiente trazido pela Carta Constitucional de 1988, em seu artigo 225, assim como, percorrer uma linha histórica como forma de se entender os problemas ambientais e suas tentativas de resoluções através de conferências e encontros realizados mundialmente.
Explorando o conceito da função social da propriedade, encontra-se a questão concernente ao fator sócio ambiental esculpido no artigo 186 , inciso II, da Carta Política. Por conseguinte, passando a uma análise mais detalhada da Lei n° 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, depara-se com a regulamentação do artigo 225, § 1º incisos I, II, III e VII do mesmo diploma legal.
Por fim, para melhor aprofundamento acerca da função sócio ambiental, traz-se o Código Florestal, Lei n° 4. 771/65[18], que atuando fortemente na adequação da propriedade aos anseios ambientais, tratou das áreas de preservação permanente e reservas legais.
4.1 Meio Ambiente
O Artigo 225 da Constituição Federal de 1988 tratou do meio ambiente, estabelecendo ser o mesmo um bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida. O mesmo dispositivo, em seus parágrafos, impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação, passando a descrever ao longo de seu primeiro parágrafo a efetividade das ações para que o mesmo fosse devidamente resguardado.
Conforme a dicção da redação constitucional, o patrimônio ambiental não se caracteriza por ser um patrimônio público, mas sim, de interesse público, pertencente a todos, sem, contudo, pertencer a alguém individualmente.
O bem ambiental não se confunde com o bem público, não fazendo aquele, parte do acervo do patrimônio estatal. A própria Constituição de 1988, trouxe essa distinção implícita ao prelecionar em seu artigo 5°, inciso LXXIII, que versa sobre a Ação Popular, a possibilidade dada a qualquer cidadão de se utilizar deste meio jurídico para, além de anular os atos lesivos ao patrimônio público ou entidade a que o Estado participe, defender o meio ambiente.
Com base na redação dada pela atual Carta Magna chega-se a conclusão que o meio ambiente se configura como um direito difuso, ao passo que, sua preservação mais se destina à coletividade do que ao próprio Estado. Diante disto, pode-se afirmar que a União, bem como as demais entidades da administração pública direta, atuam de maneira a administrar e preservar o bem ambiental, impondo certas limitações, com o fim de resguardar e garantir a própria sobrevivência.
A Lei n°6.938/81, em seu artigo 3°, inciso I, trouxe o que seria o conceito de meio ambiente, assim transcrito:
Artigo 3°: Para os fins previstos nessa Lei, entende-se por:
I-meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
A citada lei n° 6.938, que instituiu Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu mesmo artigo 3°, inciso V, tratou dos recursos ambientais como sendo: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.
Assim, em face dos inúmeros problemas ambientais, o meio ambiente passou a ser um direito altamente tutelado pelas legislações atuais, como forma de se reprimir a grande quantidade de abusos provocados pela sociedade em busca do lucro.
4.2 Aspectos Históricos da Função Ambiental da Propriedade
Atualmente muito se fala em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, no entanto, tal preocupação tornou-se um imperativo em decorrência das grandes degradações ambientais, que fizeram com que a exploração da propriedade fosse feita de maneira irracional, resultando assim, o surgimento de inúmeras leis, que findaram em circunscrever o direito, até pouco tempo absoluto, da propriedade[19].
Percebe-se que as leis ambientais que visavam preservar os recursos naturais, por várias vezes, ofuscaram os interesses escusos. Destacou-se a Lei Negra de 1723, por George I da Inglaterra, que arrolava cerca de cinqüenta crimes ambientais, chegando até mesmo a punir com pena de morte. Contudo, por traz do “véu” da preservação ambiental que visava garantir as gerações futuras, escondia-se o privilégio de manter a caça e a pesca em prol da Majestade, visando à defesa e exploração exclusiva pela Coroa.
As Ordenações Filipinas, Manuelinas e Afonsinas previam normas de caráter ambientalistas, entretanto, tais normas não foram respeitadas na colônia, permanecendo sua plena eficácia na metrópole. Este fato se deu porque Portugal não mais possuía condições econômicas e muito menos, mão-de-obra para exploração da nova terra.
Com a explosão da bomba H no Deserto de Los Álamos (EUA), seguida de explosões atômicas em Nagasaki e Hiroshima, retomaram as discussões adormecidas acerca da preservação ecológica.
A partir da década de 1970, os sistemas constitucionais começaram a tratar de maneira ainda tímida do meio ambiente, constando originalmente em uma garantia à dignidade humana, priorizando uma visão antropocêntrica para, posteriormente ingressar na concepção biocêntrica, saindo do estado periférico para integrar valores fundamentais.
A visão extremamente privatista do domínio desencadeou uma crise ambientalista no Século XX, implicando numa necessidade de afastamento da exploração predatória e não-sustentável dos recursos naturais, produzido pela “coisificação” da natureza.
Com a “Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente”, em Estocolmo no ano de 1972, e posteriormente a realização da Massachusetts Institute of Technology (MIT), os cidadãos foram lançados a repensarem a problemática ecológica.
A ECO-92[20] veio consolidar a necessidade de uma preservação ambiental e de um desenvolvimento sustentável, influenciando diversas constituições federais de vários países a aderirem à causa ou reformarem seus sistemas silentes ou defasados.
Os reconhecimentos dos problemas ambientais resultaram não apenas em um medo ou temor da população em ficar sem os recursos naturais necessários a sobrevivência, mas também, um despertamento para as questões ecológicas e ambientais, passando a ser chamado de “ecologização”.
A doutrina e a jurisprudência não toleravam mais a limitação da propriedade apenas no que concernia aos direitos da vizinhança, clamavam por uma maior atenção as degradações ambientais. No período anterior, até a década de 1970, a função social da propriedade era voltada para a observância das leis trabalhistas, relações contratuais e proteção ao mercado.
De logo, esperando por uma interpretação mais extensiva, percebeu-se que a não inclusão do meio ambiente no silêncio da função social da propriedade não geraria maiores efeitos práticos, frustrando a transformação indireta esperada. Surgiu, ora pelo labor do, legislador constituinte originário, ora pelo derivado, a proteção ao meio ambiente como legitimador do direito fundamental da propriedade.
Assim, percebeu-se que o resultado dessa grande conscientização ambientalista veio com a consagração do princípio da função social, que norteia a sociedade contemporânea no que concerne ao direito de propriedade. Este princípio envolvendo valores sociais e econômicos, trouxe a baila a função ambiental ditadora das normas que regem o domínio e a posse do bem imóvel.
4.3 Função Socio Ambiental Propriamente Dita
Regularizando a situação ambiental, a Constituição Federal equacionou direitos e deveres impostos à coletividade, afastando o conceito clássico de propriedade, ampliando sua tutela, impondo não apenas o dever de não-degradar, como também, concedendo ao meio ambiente “status” de direito fundamental.
O artigo 170 da Carta Magna de 1988 enumerou uma série de princípios como forma de alcançar a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, consagrou a defesa do meio ambiente dentre os ditames a serem seguidos. Essa dicção Constitucional retirou a aparente contradição existente até meados da década de 1970, conciliando a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento econômico.
Trouxe imposições implícitas e explícitas ao domínio, obrigando à intervenção estatal como forma de se obter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mitigando a discricionariedade da Administração Pública na adoção de políticas menos gravosas ao equilíbrio ecológico.
Dentre as limitações explícitas, encontra-se a função sócio ambiental da propriedade, não se caracterizando por ser mais uma limitação à propriedade, mas sim, uma imposição ao proprietário, que autoriza ou detém seu poder de agir conforme o necessário à preservação do meio ambiente.
Preceituando acerca da função social, o artigo 186 da Carta Constitucional discorreu em seus incisos, as circunstâncias que deveriam ser seguidas pela propriedade rural. Além das funções econômicas e propriamente sociais, a propriedade rural possui a função ambiental. O inciso II do presente artigo, dando ênfase à função ambiental, determinou a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Diante deste texto legal, tem-se que para atingir a função social da propriedade há a necessidade de que seja cumprida a função ambiental da mesma.
A função socio ambiental, no que tange ao seu objeto,varia conforme a situação em concreto, de forma que, ora visa resguardar o meio ambiente na sua acepção de direito difuso, sem uma devida especificação dos elementos integrantes, ora recai sobre os fragmentos ambientais, ditando normas para a preservação de rios, montanhas, ou qualquer outro ecossistema localizado e individualizado.
Tratando do tema, Álvaro Luiz Vallery de Mirra, assim preceituou:
A função social e ambiental não constitui um simples limite ao exercício do direito de propriedade, como aquela restrição tradicional, por meio do qual se permite ao proprietário, no exercício de seu direito, fazer tudo que não prejudique a coletividade e o meio ambiente. Diversamente, a função social e ambiental vai mais longe e autoriza até que se imponha ao proprietário comportamentos positivos, no exercício de seu direito, para que a propriedade concretamente se adeque à preservação do meio ambiente. (1996, p. 59-60)
Por ser um interesse difuso, é retirado do proprietário, seja ele pessoa pública ou privada, a sua livre disposição, não permitindo a ameaça ao equilíbrio ecológico pela característica primordial da indisponibilidade. Consistindo o interesse ambiental em um juízo entre uma necessidade de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e os meios disponíveis para a sua satisfação, que variam conforme o estágio do dano ambiental em prevenção, reparação ou repressão.
Com a atuação da função ambiental da propriedade rural, o proprietário fica obrigado a resguardar os bens ambientais ali existentes, incidindo nessa obrigação, não apenas aos bens privados como também os bens públicos.
Nota-se que a imposição legal presente na Constituição Federal, que consiste em ser observada a função ambiental da propriedade, é uma imposição genérica, necessitando de legislações ambientais infraconstitucionais para melhor especificar como deve ser exercida esta função, impondo deveres inerentes a cada propriedade conforme os bens ambientais presentes em seus territórios.
Visando resguardar os bens ambientais, a propriedade se volta à manutenção do equilíbrio ecológico, preenchendo tanto os interesses de todos da sociedade, como também, do próprio proprietário que assim atua.
Na verdade, o que se tem é um conflito em que há uma redução ao poder supremo e amplo da liberdade, com escopo de privilegiar o interesse público.
Assim, a função socio ambiental não deve ser vista apenas como redução nas faculdades inerentes ao direito de propriedade, mas também, uma proteção à propriedade rural, não permitindo sua exploração, de modo a levar a perda do seu potencial produtivo, como também, de afastar os danos ambientais irreversíveis. Faz-se necessária a correta exploração, obedecendo sempre às regras de manutenção do equilíbrio ecológico.
Aos poucos, não só a própria Constituição Federal, mas também as demais legislações ambientais, vão limitando o uso e exploração da propriedade, transformando a concepção privatista e trazendo à sociedade moderna um direito de propriedade cheio de deveres.
Com o fulcro de melhor delimitar a regra constante no artigo 186, inciso II da atual Constituição Federal, a Lei n° 8.629/93, esboçou conceitos acerca da adequada utilização dos recursos naturais e da devida preservação do meio ambiente:
Art. 9° A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos:
(. ..)
§2 ° – Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade.
§3° Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias de meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas.
Logo, conforme as dicções legais, a função socio ambiental é cumprida quando a exploração da propriedade rural observa a natural vocação da terra, de forma a manter o potencial produtivo adequado, respeitando a qualidade dos recursos ambientais, preservando o equilíbrio ecológico da propriedade, gerando qualidade de vida não apenas ao seu proprietário, mas também a todos que o cercam.
Conforme entendimento trazido por Luciano de Souza Godoy, o conceito de atividade agrária envolveria três elementos, quais sejam, o homem, o solo e o processo agro-biológico, fazendo surgir a propriedade agrária como bem de produção que cumpre a função social. (1999, p.67)
A atual Carta Magna tratou do meio ambiente no Capítulo I do Título II (Dos direitos e deveres individuais e coletivos); no Capítulo I do Título VII (Dos princípios da atividade econômica); no Capítulo II do Título VII (Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária) e no Capítulo VI do Título VII (Do meio ambiente), visando sempre garantir um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.
Ressalta-se assim, que diversas legislações ordinárias surgiram com o intuito de guiar a propriedade na consecução da função socio ambiental, destacando-se entre elas, a Lei n° 4.717/65, que instituiu o Código Florestal; a Lei n° 8.629/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e a Lei n° 9.985/00 que, regulamentando a Constituição Federal, instaurou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, bem como, o Código de Caça e das águas.
Portanto, não apenas um princípio, mas uma verdadeira condição legal para legitimação e conseqüente proteção da propriedade, a função socio ambiental da propriedade rural se expressa como um dos alicerces para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade.
4.4 A Lei N° 9.985/00 e o Artigo 225 da Constituição Federal de 1988
Tendo o objetivo de regulamentar o artigo 225, § 1º, incisos I,II,III e VII da Constituição Federal, foi editada a Lei n° 9.985, em 18 de julho de 2000, que veio a instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
A mencionada lei, preceituando além das classes territoriais especialmente protegidas, efetivou a classificação dos regimes aplicáveis, facilitando a maior compreensão acerca do tema, antes apenas tratado por legislações esparsas.
Tratou das unidades de conservação, espécies do gênero espaços territoriais especialmente protegidos, tendo como característica possuir e vincular o uso de recursos naturais, fazendo a divisão em duas categorias respectivamente, Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, dicção presente no artigo 7°.
As Unidades de Proteção Integral visam a preservação da natureza, embora permitam o uso indireto dos recursos naturais ali presentes. Conforme o artigo 2°, inciso IX, o uso indireto seria o que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. As Unidades de uso Sustentável, por sua vez, possuem o objetivo de administrar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, coordenando o conceito de uso sustentável ao preceito legal presente no artigo 2°, inciso XI, que assim dispõe:
Artigo 2°. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(…)
XII Uso Sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente renovável.
Assim, conforme a distinção feita pela SNUC[21], as Unidades de Proteção Integral reúnem a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre (artigo 8°). O outro grande grupo formado pela Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural, fazem parte da Unidade de Uso Sustentável.
Faz-se necessário o devido desmembramento da lei para melhor análise de cada unidade de conservação elencada.
4.4.1 Estações Ecológicas
Tal unidade de conservação encontra-se no artigo 9°, da Lei 9.985, tendo corno objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
Pertencendo ao domínio público, não permite a visitação externa, contudo, esta vedação abre espaço quando o objetivo for educacional, observando as disposições do Plano de Manejo da unidade ou regulamento.
Quando situada em propriedade privada torna-se imperiosa a desapropriação por parte do Poder Público, podendo este ser de âmbito Federal, Estadual e Municipal.
Voltada à pesquisa científica, precisa de prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade seguindo aos limites impostos por este.
4.4.2 Reservas Biológicas
Presente no artigo 10 da Lei n° 9.985, visa a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem que haja nestes, interferências humanas diretas ou quaisquer alterações ambientais, sendo apenas permitidas as medidas de recuperação em seus ecossistemas modificados, além das ações de manejo necessárias para preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.
Por ser Unidade de Proteção Integral requer que tanto sua posse como seu domínio pertençam ao Poder Público, realizando a desapropriação em propriedades privadas.
Proibi-se a visita pública, permitindo apenas a que tiver objetivo educacional. A pesquisa científica também não é vedada, requerendo autorização prévia e limites estabelecidos. Excluindo, por seu turno, atividades de perseguição, caça, apanha ou introdução de espécimes na fauna ou na flora silvestre e doméstica, assim como, modificações de qualquer título no meio ambiente.
4.4.3 Parque Nacional
A Lei do SNUC, em seu artigo 11, §4°, prevê a criação de parques, sendo a posse e o domínio público, retira do particular o direito a propriedade por meio do instituto da desapropriação. Visando resguardar a natureza nestas áreas, conciliou sua utilização com objetivos educacionais, recreativos e científicos.
A preservação permanente é dever legal dos parques, tomando-se insuscetíveis de exploração econômica, permitindo contudo, a cobrança de ingressos aos visitantes com vinculação de pelo menos 50% de sua receita para manutenção, fiscalização e obras de melhoramento.
4.4.4 Monumento Natural
A Lei 9.985/00 tratou do Monumento Natural, consistindo este em uma Unidade de Proteção Integral, com objetivo de preservação de sítios raros ou de grande beleza cênica, podendo pertencer tanto ao domínio público como ao privado, desde que seja compatível com os objetivos da unidade, utilizando a terra e os recursos naturais do local adequadamente pelos seus proprietários.
O proprietário do imóvel que possui em seus limites esta unidade de conservação, deverá adequá-las às condições propostas pelo órgão responsável pela administração desta para a coexistência do Monumento Natural, caso em que, se não for devidamente respeitada, permitirá a desapropriação.
4.4.5 Refúgio da Vida Silvestre
A lei do SNUC permite a compatibilidade entre a Unidade de Conservação em apreço e a propriedade privada, seguindo o mesmo regime do Monumento Natural, ou seja, podendo ser constituído em propriedades particulares. desde que compatível com os objetivos fixados na lei.
Assim, a desapropriação só será feita se houver descumprimento ou não observância dos limites impostos pela administração da Unidade.
4.4.6 Áreas de Proteção Ambiental
Segundo o artigo 15 da SNUC, as áreas de proteção ambientais são espaços geralmente extensos, com certo grau de ocupação, possuindo atributos abióticos, bióticos,estéticos ou culturais, que possuem grande importância na vida sadia e bem estar das populações humanas e visam proteger a diversidade biológica, estabelecendo limites e processos de ocupação como forma de assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Constituindo Unidade de Uso Sustentável pode permanecer no domínio público ou privado, impondo a este último, limitações ao direito de propriedade sem conceder-lhe indenização, uma vez que, apesar de ser limitada, não deixa de ser economicamente explorável.
Diferenças ocorrem nas áreas de proteção ambiental em propriedades públicas e privadas, no que tange à pesquisa científica e à visitação pública, vez que o primeiro depende de autorização do órgão gestor da unidade, enquanto que o segundo remete a escolha ao proprietário, observadas as restrições legais.
A referida área possui um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração, formado por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e por populações ali residentes, obedecendo ao princípio esculpido no artigo 225 da atual Carta Magna, na qual todos são responsáveis pela manutenção de um meio ambiente equilibrado.
4.4.7 Área de Relevante Interesse Ecológico
O artigo 16 da Lei n° 9.985/00, trouxe essa Unidade de Uso Sustentável com a característica essencial de manter ecossistemas naturais de importância regional e regular o uso adequado aos fins desta Unidade de Conservação, destacando-se por ter pouca ou nenhuma ocupação humana, preenchendo espaços de pequenas extensões.
Podem ser instituídas em áreas de domínios públicos ou privados, contanto que sejam respeitadas as características naturais extraordinárias ou os exemplares raros da biota regional que abriga.
4.4.8 Floresta Pública
Estando na posse e domínio exclusivo do Poder Público, permite-se a desapropriação de propriedades particulares, conforme dispõe o artigo 17, § 1º. As Florestas Públicas podem ser instituídas como Unidade de Uso Sustentável nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais, permitindo o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais, assim como, a permanência de populações tradicionais que habitam desde a sua criação, devendo ser observado o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da Unidade.
Com a prévia autorização do órgão responsável é consentida a pesquisa, no entanto, devem ser obedecidas as restrições impostas e analisados os requisitos presentes em regulamento.
A visitação pública, como bem denota o artigo 17, §3°, condiciona-se às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão gestor de sua administração.
Composta por um conselho consultivo, cuja presidência fica a cargo de um órgão responsável por sua administração, permitindo a interação dos órgãos públicos, sociedades civis e populações tradicionais.
4.4.9 Reserva Extrativista
A dicção do artigo 18 da Lei n° 9.985/00 deixa claro que sua utilização baseia-se na atividade do extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte por suas populações extrativistas tradicionais.
Visando manter um ecossistema natural de importância regional ou local, requer o uso regular dessas áreas, compatibilizando com os objetivos de conservação da natureza, ficando vedada a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional.
Desta forma, desde que se observem os limites constitucionais, será permitida a sua constituição em terras públicas e privadas.
4.4.10 Reserva de Fauna
O artigo 19 que trata de tal Unidade de Uso Sustentável, situando-a no domínio público permitiu a desapropriação se necessário for. O seu principal objetivo é o manejo econômico sustentável.
A visitação pública, desde que compatível com o manejo da unidade e seguindo o estabelecido nas normas expedidas pelo órgão responsável, é permitida. Tal permissão não se estende à caça, seja ela exercida com o intuito amadorístico ou profissional, conforme dispõe o artigo 19, §4°.
4.4.11 Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Presente no artigo 20, §2° do SNUC, possui regime idêntico aos das demais Unidades de Uso Sustentável, possuindo domínio exclusivamente público, motivo pelo qual permite a devida desapropriação quando presente em terras particulares, destinando-se ao abrigo de populações tradicionais.
O §5° do mesmo artigo, permitiu a realização de certas atividades nesta reserva, contanto, estabeleceu algumas condições a serem seguidas, garantindo em síntese, a visitação pública, o incentivo à pesquisa científica. Sempre considerando o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação.
4.4.12 Reserva Particular do Patrimônio Natural
Unidade de Uso Sustentável, a Reserva do Patrimônio Nacional encontra-se em área de propriedade privada gravada com perpetuidade. Assim, por não estar em domínio público, não acolhe o instituto da desapropriação.
Com o objetivo de conservação da diversidade biológica, só será permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, impondo sempre a observância do regulamento para o procedimento desses fins. O artigo 21, §3°, visando melhor direcionar o particular, abriu a possibilidade de que os órgãos integrantes do SNUC, prestem orientações com o fim de elaboração de um plano de manejo ou de proteção e de gestão da unidade.
O particular que possui em seus limites tal unidade de conservação, deverá prestar um termo de compromisso firmado perante o órgão ambiental, sendo averbado a margem do Registro Público de Imóveis.
4.5 Outros Espaços Territoriais Especialmente Protegidos
Além da Lei n° 9.985/00, outras leis tratam de espaços territoriais especialmente protegidos, embora não constituam unidades de conservação. Dentre tais áreas, destacam-se as de preservação permanente, a reserva legal, a zona de amortecimento e o corredor ecológico.
4.5.1 Áreas de Preservação Permanente
O Código Florestal, Lei n° 4.771/65, versou sobre a reserva legal e as áreas de preservação permanente. Observa-se que, embora a Lei n° 6.938/81, em seu artigo 18, tenha dado nova redação ao artigo 2° do referido Código, transformando as áreas de preservação permanente em reservas ou estações ecológicas, o que prevalece até os dias atuais é a dicção original.
Inicialmente, destaca-se o artigo 1° da Lei n° 4.771/65, que impõe uma limitação à propriedade com o fim precípuo de prevalecer a proteção ambiental. Os artigos 2° e 3°, elencam as áreas de preservação permanentes, sendo as primeiras legais e as segundas administrativas.
As áreas de preservação permanente ficam sujeitas a um regime jurídico de interesse público por possuírem atributos naturais de grande relevância, necessitando assim, de uma proteção especial.
O artigo 16, por seu turno, preceitua a impossibilidade de exploração econômica nas florestas de preservação permanente. O artigo 2°, visando resguardar tais florestas, estende sua proteção a outros elementos naturais como a água e a qualidade do solo, objetivando afastar a erosão pela retirada da vegetação localizada em certas áreas da superfície natural.
Ressalta também que, embora a redação literal do artigo 2°, mencione apenas a preservação de vegetação natural nas áreas ali relacionadas, existem também florestas de preservação plantadas.
Conforme a dicção do artigo 18, nas áreas de preservação permanente pode haver o florestamento ou reflorestamento por seu proprietário, ocorrendo este último, caso tenha sido desmatada a área, sendo recuperada com as espécies nativas antes existentes. O Poder Público ficará responsável por esse reflorestamento com a inércia do particular.
As áreas administrativas de preservação permanente vêm relacionadas no artigo 3° do Código Florestal, caracterizando-se por serem declaradas pelo Poder Público através de ato administrativo, só podendo ser suprimidas total ou parcialmente pelo mesmo modo de sua instituição. A autorização deriva do Poder Público Federal, vinculando o uso à destinação motivadora da autorização, na qual, uma vez preenchidos os requisitos, não restará alternativa, senão a de expedir o Decreto declaratório da área de preservação permanente.
Por serem previamente determinadas em lei, a manutenção da área de preservação permanente legal, presente no artigo 2°, não enseja indenização. Entretanto, esta indenização pode-se fazer necessária com a criação de áreas de preservação permanente administrativas que, por não possuírem caráter geral, poderão incidir sobre uma propriedade específica suprimindo-lhe as culturas ali existentes, conforme determina o artigo 18, § 1 ° da lei em tela.
4.5.2 Reserva Legal
Os artigos 16 e 44 da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal), regularam a matéria concernente à reserva legal, preceituando-o com um espaço especialmente protegido de manejo sustentável, visando proteger as reservas legais, preservando a biodiversidade biológica de espécies de fauna e flora. Essas reservas são instituídas em terras públicas e privadas, não rendendo desapropriação ou indenização.
A Lei n° 4.771/65 distinguiu a percentagem que a reserva legal deve ocupar nos”. móveis rurais. Conforme o artigo 44, as reservas legais ocupadas com florestas, constantes nos imóveis rurais da Amazônia Legal, devem ser de pelo menos 50%, não se admitindo o corte raso de, no mínimo, 80% se a cobertura arbórea tiver sido constituída com o fito de fisionomias florestais, caindo este último para 20% se o imóvel rural se situar nas regiões do Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, de acordo com o artigo 16, “a”.
Os artigos 44, parágrafo único, e 16, § 2° do Código Florestal, inseriram a necessidade da propriedade rural, constituída como reserva legal, ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, não sendo permitida a sua alteração ou desmembramento da área que lhe modifique a destinação.
A dúvida que paira na jurisprudência[22], longe de ser pacífica, é se a reserva legal de que a Lei n°4.771/65 trata, estaria relacionada com a percentagem da área de cada propriedade, aplicando-se o artigo 44, ou se, corresponderia à área de cobertura arbórea, embasada no artigo 16.
As decisões jurisprudenciais, divergindo acerca da obrigação imposta ao atual proprietário de realizar o reflorestamento da reserva legal, por vezes não levam em conta o responsável pelo desmatamento, ou ainda, desconsideram o fato de nunca ter havido cobertura florestal na área. A Lei n° 8.171/91, ao tratar da Política Agrícola, dispôs em seu artigo 99, a obrigatoriedade do proprietário rural recompor a reserva florestal legal presente em seu imóvel.
Analisando algumas decisões proferidas pelos tribunais pátrios, chega-se a ver a obrigação de recompor a vegetação nativa em áreas recém adquiridas e desmatadas pelo proprietário originário. Vê-se também decisões que se fundam na falta de necessidade de delineamento da área a ser recomposta, situando no pólo passivo, tanto o responsável pelo dano como o atual proprietário.
Por seu turno, em decisão proferida no Paraná[23], o tribunal de justiça, apesar de reconhecer a obrigação de recompor o dano ambiental, decidiu pela improcedência da ação civil pública pela não delimitação das áreas a serem reflorestadas, por entender que houve falta de interesse por parte do órgão competente.
4.5.3 Zona de Amortecimento
O disciplinamento da Zona de Amortecimento foi feito pela Lei nº 9.985 de 2000, nos seguintes termos:
Artigo 2°. Para os fins desta Lei, entende-se por:
(…)
XVIII – Zona de Amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
Assim, conforme a mencionada lei, as zonas de amortecimentos incidem sobre a propriedade privada, não necessitando de desapropriação. No entanto, para o seu devido uso, como bem determina a função ambiental da propriedade, faz-se necessário o estabelecimento de regras para utilização e ocupação pelo órgão responsável pela gestão da Unidade de Conservação.
Embora não ocorra a desapropriação, pode ocorrer de ser necessária uma indenização para o proprietário de imóveis privados pelas grandes limitações impostas em sua propriedade.
Havendo a conciliação entre o desenvolvimento regional e os objetivos da unidade de conservação respectiva, poderá ser realizada alguma atividade antrópica, permitindo sua utilização de forma econômica. Este entendimento encontra-se inspirado no intuito da Lei n° 9.985/00, permitindo o desenvolvimento econômico da população com a devida proteção ao meio ambiente.
4.5.4 Corredor Ecológico
O corredor ecológico foi assim tratado:
Artigo 2°. Para os fins desta Lei, entende-se por:
(…)
XIX – Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades de individuais.
Diante de tal preceito denota-se que os corredores ecológicos estão fora das unidades de conservação, incidindo em propriedades privadas, sem necessidade de desapropriação para este fim. O uso e a ocupação desses corredores ecológicos dar-se-ão conforme o estabelecido no órgão responsável pela gestão das respectivas unidades de conservação, momento em que ocorrerá a sua função ambiental.
5 CONCEPÇÕES ACERCA DO DIREITO DE PROPRIEDADE E DE SUAS FUNÇÕES SEGUNDO AUGUSTO COMTE E LÉON DUGUIT
Embora o princípio da função social da propriedade tenha encontrado sua consolidação somente no direito constitucional do início do século XX com o advento do Estado Social, as primeiras manifestações doutrinárias mais concretas e recentes datam do século XIX. À época, Augusto Comte (1798-1857) apresentou significativa contribuição ao seu desenvolvimento, para defender que as funções (ações) humanas, mesmo sendo exercidas individualmente, sempre têm uma natureza social, como consta na Décima Conferência de seu Catecismo Positivista. Diz o autor:
Posto que cada função humana se exerça necessariamente por um órgão individual, sua verdadeira natureza é sempre social; pois que a participação pessoal subordina-se aí constantemente ao concurso indecomponível dos contemporâneos e dos precedentes. Tudo em nós pertence, portanto, à Humanidade, porque tudo nos vem dela: vida, fortuna, talento, instrução, ternura, energia etc. (COMTE, 2000, p. 269).
Ao transpor esse raciocínio para o direito de propriedade, os juristas têm interpretado que o proprietário deve exercer seu direito sem se descuidar do interesse social e do bem comum, estando presente nessa idéia de socialidade, portanto, um dos primeiros rudimentos concernentes à moderna teoria da função social da propriedade.
Na Undécima Conferência de seu Catecismo Positivista, consta que “o positivismo[24] não admite nunca senão deveres de todos para com todos; pois que seu ponto de vista sempre social não pode comportar nenhuma noção de direito constantemente fundada na individualidade” (COMTE, 2000, p. 284). E, na seqüência de seu pensamento, aduz que as pessoas nascem com obrigações, de todo gênero, não só para com os contemporâneos, mas também para com seus predecessores e sucessores.
Esse entendimento sobre os deveres do ser humano, ao ser aplicado ao direito de propriedade, admite que a natureza e o fundamento desse direito têm uma relação direta não tanto com o interesse individual quanto com o interesse social. E mais, permite inferir que essa noção idealizada por Comte resume um modelo de sociedade na qual o princípio do direito de propriedade individual encontra conciliação com o princípio de sua função social.
Em Opúsculos de Filosofia Social, Comte (1972, p. 69) sustenta que todo sistema social “tem por finalidade definitiva dirigir para um objetivo geral de atividades todas as forças particulares, porquanto só há sociedade onde se exerce uma ação geral e combinada.” E, em qualquer outra hipótese haverá apenas uma aglomeração de certo número de pessoas.
Depois de Comte, a teoria da função social da propriedade ganhou ampla fundamentação jusfilosófica com Léon Duguit (1859-1928), a qual sugere que seu objetivo foi o de tentar desfazer o caráter absoluto do direito de propriedade, na forma como foi estruturado pela Revolução Francesa e pelo Código Civil francês de 1804. Consoante seu entendimento, a concepção do direito de propriedade expressa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e no Code Napoléon, já não correspondia ao direito do final do século XIX e do início do século XX.
A propriedade, nesse sentido, havia deixado de ser um direito subjetivo do proprietário, como fora definido pelo art. 544, do Código de 1804, ou seja, um direito absoluto que dava ao proprietário o poder de usar, de gozar e de dispor da coisa e, ao mesmo tempo, o poder de não usar, de não gozar, de não dispor da coisa e, conseqüentemente, de deixar suas terras sem cultivo, seus locais urbanos sem construções, suas casas sem locação e sem manutenção e seus capitais móveis improdutivos (DUGUIT, 1923, p. 295).
Na passagem do século XIX para o seguinte, a propriedade deixava de ser apenas um direito subjetivo do proprietário e tendia a tornar-se uma função social que implicava a todo detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para aumentar a riqueza social. Duguit (1923, p. 295) defendeu a idéia de que só o detentor da riqueza poderia cumprir a tarefa social de aumentar a riqueza geral e, por isso, o proprietário era socialmente obrigado a desempenhar essa função e só seria protegido se a executasse, e na medida e limites em que deveria cumpri-la.
A concepção teórica da função social da propriedade formulada por Duguit tem, como ponto de partida, a distinção entre os conceitos do direito objetivo e do direito subjetivo, sob o argumento de que a categoria direito designa duas coisas que se integram intimamente, mas que, ao mesmo tempo, são muito diferentes. O direito objetivo ou a regra de direito é, no seu modo de ver, a regra de conduta imposta aos indivíduos que vivem em sociedade, cujo respeito deve ser considerado em certo momento por dada sociedade que coletivamente o exige, em conformidade com a justiça e com a garantia de seus interesses comuns. E o direito subjetivo é o poder que a pessoa tem de obter o reconhecimento social dos seus direitos, quando o objeto desejado e o motivo que determina seu ato de vontade são legitimamente reconhecidos pelo direito objetivo (DUGUIT, 1923, p. 1).
Por isso, a norma jurídica é sempre social. Diz ele: “Afirmar que o homem é um ser social, que vive em sociedade e que só pode viver em sociedade, é afirmar ao mesmo tempo a existência de uma lei social” (DUGUIT, 1921, p. 12,15)[25]. Aduz também que lei social não pode ser uma lei de causa, porque se aplica aos atos voluntários e conscientes do homem. Ela só pode ser uma lei de objetivo ou uma norma que dirige e limita a atividade consciente e voluntária da pessoa, a qual determina o objeto e o objetivo de seu querer e que lhe proíbe a prática de alguns atos (deveres negativos) e lhe impõe outros (deveres positivos).
Sob esse modo de interpretar o direito, a sociedade depende da conduta das pessoas, em conformação com a norma do ser social, e como essas pessoas necessitam de algumas coisas determinadas por um objetivo, a lei da sociedade deve necessariamente determinar o objeto do querer e o objetivo que o determina. Sociedade e norma social são, nesse sentido, dois fatos inseparáveis. Em síntese, a norma social, como lei de objeto e de objetivo tem o papel de proibir ou comandar os atos conscientes a serem ou não praticados (DUGUIT, 1921, p. 16).
No âmbito do direito positivo, Duguit (1921, p. 49) procura determinar em que momento certa regra, da qual a pessoa ou o grupo social tem consciência mais ou menos clara, torna-se regra de direito. Como solução, põe termo à questão, afirmando que esse problema tem somente uma resposta, ou seja, sustenta que é no momento em que a consciência coletiva firma o sentimento de que o respeito à norma é tão essencial à manutenção da solidariedade social que ela exige uma sanção determinada.
Isso não quer dizer que tal norma seja necessariamente boa ou represente um direito superior. Entende, apenas, que nesse caso, uma regra de direito é aceita por determinado grupo social, pelo sentimento de que com essa lei haverá a possibilidade de concreção da justiça.
A partir dessa formulação teórica é que se pode chegar às doutrinas do direito individual e do direito social, as quais trazem consigo a justificação da função social da propriedade. A objeção de Duguit contra os postulados da doutrina individualista é fundamentada na idéia de que “a afirmação teorética do homem natural, isolado, nascendo livre e independente dos outros homens, além de portar direitos constituídos por essa liberdade, não passa de uma abstração sem conformidade com a realidade” (ORRUTEA, 1998, p. 156-157). Ao contrário, o homem nasce membro de uma sociedade e por depender dela, encontra-se, necessariamente, vinculado ao convívio num ambiente de solidariedade social. O mais correto é asserir que os homens nascem membros de uma sociedade e, por este fato, todos possuem obrigações sociais para com todos. Orrutea menciona também que, para Duguit, as doutrinas do direito social
[…] são aquelas que partem da sociedade para chegar ao indivíduo; do direito objetivo para chegar ao direito subjetivo, e de igual forma, de uma norma ou regra social para se chegar ao direito individual. Afirmam a existência de uma regra que se impõe ao homem vivendo em sociedade e fazem derivar seus direitos subjetivos de suas obrigações sociais. Afirmam que o homem, ser naturalmente social, é, em conseqüência disto, submetido a uma regra social que lhe impõe obrigações para com os outros homens (ORRUTEA, 1998, p. 156-157).
É sob essa concepção que Duguit apresenta a solidariedade como um dos fundamentos do direito. Argumenta, pois, que o direito encontra base na solidariedade social pelo fato incontestável de que o homem, por necessidade, vive em sociedade. Concomitantemente, o ser humano tem tanto uma consciência individual quanto social, já que suas necessidades, aspirações e realizações estão em interdependência direta com a sociedade. Na seqüência de seus argumentos, defende a idéia de que, “O homem, numa palavra, tem a consciência, mais ou menos clara conforme as épocas, de sua socialidade, isto é, de sua dependência de um grupo humano, e de sua individualidade” (DUGUIT, 1923, p. 8).
Face à constatação da necessidade de solidariedade social que deve existir no convívio humano, segundo Orrutea (1998, p. 158), Duguit interpreta que ao ser humano impõe-se a regra de que nada deve ser feito que atente contra a solidariedade e a lei positiva, e esta, para ser legítima, deve ser a expressão do princípio da solidariedade social. E sustenta que se a pessoa pode agir em benefício de outrem, ela deve ter um poder-dever de agir. Nas palavras do autor francês:
O homem vivendo em sociedade tem direitos, mas esses direitos não são prerrogativas que lhe pertencem em sua qualidade de homem. São poderes que lhe pertencem, porque sendo homem social, ele tem um dever a cumprir e deve ter o poder para cumprir esse dever. Vê-se que se está longe da concepção do direito individual. Não são os direitos naturais, individuais, imprescritíveis do homem que são o fundamento da regra de direito que se impõe aos homens vivendo em sociedade (DUGUIT, 1923, p. 12).
Em prosseguimento, Duguit aborda outras duas questões relativas ao direito de propriedade, dignas de particular destaque. Pela primeira, alterca (de modo polêmico) que o direito de propriedade só deveria ser conferido como poder a alguns indivíduos, ou seja, àqueles que se encontram numa situação econômica de poder cumprir sua missão social (posição esta que, sob licença, não posso concordar). Pela segunda expressa sua posição de que a propriedade não é um direito natural, porque a idéia de propriedade-direito natural conduziria ao modelo de propriedade do sistema comunista, ao expor que:
[…] com a concepção da propriedade-direito natural, se está ao mesmo tempo impotente de justificar as propriedades existindo de fato, e também de limitar o exercício do direito de propriedade. A propriedade individual deve ser compreendida como um fato contingente, produto momentâneo da evolução social; e o direito do proprietário como sendo justificado e, ao mesmo tempo, limitado pela missão social que se lhe incumbe pela situação particular na qual ele se encontra (DUGUIT, 1923, p. 13).
Como se pode constatar, nas concepções desenvolvidas por Duguit, a partir dos conceitos de direito objetivo, de direito subjetivo, de justiça e de solidariedade social, é possível encontrar bases sólidas para a sustentação teórica do princípio da função social da propriedade. Princípio este que enuncia o comportamento que o proprietário deve ter no exercício do direito de propriedade frente ao interesse social, ou seja, à maneira como o proprietário deve conduzir-se nas relações jurídicas que envolvem o interesse individual e o interesse social (ORRUTEA, 1998, p. 154-155), o qual se impõe aos particulares e ao Estado. Desse modo:
A consciência moderna sente a necessidade imperiosa de uma regra de direito, impondo-se com o mesmo rigor ao Estado detentor da força e aos sujeitos do Estado. Não é impossível, de resto, mostrar que fora de uma criação pelo Estado, o direito tem um fundamento sólido, que este é anterior e superior ao Estado e que, como tal, se impõe ao próprio Estado (DUGUIT, 1923, p. 2).
A concepção do direito de propriedade elaborada por Duguit sofreu objeções por parte de vários juristas, em especial, no que diz respeito à noção de que a propriedade não é uma função social, mas sim, que a propriedade tem uma função social que deve ser desempenhada pelo proprietário. Contudo, a leitura atenta do pensamento do autor francês mostra que ele não se referiu somente à noção de propriedade-função social, mas também à idéia de que a propriedade tem uma função social a ser exercida pelo proprietário.
Ao que tudo indica, nesse particular, tomou-se apenas parte de seu pensamento para a formulação dessas críticas. Tanto que a idéia de propriedade-função social poderia conduzir ao sistema de propriedade comunista e o autor, ao contrário disso, posicionou-se contra o conceito de propriedade-direito natural, por entender que esse conceito conduziria ao comunismo. Duguit defendeu o solidarismo no sentido de solidariedade social, e não o comunismo.
Realizada essa análise em relação ao pensamento de Duguit, acrescenta-se que, para Espínola (1956, p. 161), o pressuposto de confiança recíproca e de boa fé que integra o moderno conceito de obrigação
[…] encontra correspondência na função social, implícita no direito de propriedade, no sentido de consideração à solidariedade social, compreendendo os direitos do proprietário e os deveres que lhe são impostos pela política legislativa. É afirmação corrente que a solidariedade social, embora tenha […] a sua expressão sintética no Estado, é, no que diz respeito à disciplina do direito de propriedade, uma satisfação eqüitativa e equilibrada de interesses individuais e de interesses sociais globais da coletividade, interesses esses que se devem harmonizar no regime da propriedade privada.
Releva destacar, que na evolução que se sucedeu, as legislações que estabeleceram limitações ao exercício do direito de propriedade não o descaracterizaram como direito individual. Ao contrário, sempre houve a preservação do interesse individual do proprietário desde que fosse cumprida a função social. Com isso, passa a prevalecer o interesse público e social, quando o Estado utiliza a desapropriação, não para atingir o direito de propriedade simplesmente, mas para limitar o seu exercício, com base num objetivo concreto, qual seja, o de dar a determinados bens uma destinação útil à coletividade, por interesse social.
Quanto à evolução teórica desse tema, Mattos Neto (1996, p. 74) refere que o direito de propriedade imobiliária deixa de ser um direito subjetivo e estático e assume papel dinâmico e funcional. A funcionalidade foi o elemento jurídico encontrado para conciliar o direito de propriedade individual com a concepção social da propriedade. Através da noção de funcionalidade, a propriedade privada deixa de comportar somente faculdades e passa a ter atribuições, limitações e deveres, pela imposição ao proprietário do cumprimento de uma função social que o obriga a praticar atos positivos de caráter econômico.
A legislação brasileira contempla diversas sanções ao proprietário que não dá uma destinação produtiva e/ou útil à sua propriedade, como são os casos da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e da usucapião agrária e urbana. A partir disto conclui-se, então, que o proprietário, além de seus deveres negativos de não lesar a outrem, possui deveres positivos, ou seja, o dever de agir e de dar à propriedade uma destinação econômica e social, sob pena de responder pelo descumprimento das obrigações decorrentes da função social da propriedade.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito reflete valores de uma determinada sociedade. A Lei Suprema de um Estado deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade, contendo os valores fundamentais a serem protegidos, sob pena de restar defasada e ultrapassada. Não obstante o Brasil ter tido diversas Constituições em períodos históricos e conjunturas sócio-políticas diferentes, todas trataram acerca da proteção à propriedade. É relevante mencionar que, além da atual Carta Política, duas foram importantes para a constitucionalização do interesse social e coletivo da propriedade, a Constituição de 1934 e a de 1967, tendo esta contemplado de forma explícita a função social da propriedade, apesar do regime ditatorial vigente.
Existiu, há pouco tempo uma concepção de propriedade extremamente individualista e absoluta, baseada em faculdades de usar, gozar e dispor do bem com ampla liberdade, mesmo que essa utilização acarretasse num uso irracional e inadequado com interesses exclusivamente privados.
O tempo e a história mostraram que esta forma de tratar a propriedade não era a mais adequada, por não responder aos anseios sociais, momento este em que surgiram as idéias propagadas por Santo Tomaz de Aquino. A Constituição de Weimar veio para traçar uma nova fase, consagrando em seu diploma a função social da propriedade.
No âmbito nacional o grande marco foi a Declaração dos Povos da América em Punta Del Este, que após ter se tomado signatário, criou no Brasil a necessidade de não apenas fazer menção à função social da propriedade como vinha fazendo ao longo de suas Constituições anteriores, voltando à propriedade rural e sua problemática, fazendo surgir a Lei n° 4.504 de 1964, Estatuto da Terra.
A partir do Estatuto da Terra, começou-se a questionar a propriedade, devendo a mesma atingir graus de exploração satisfatórios, assim como preservar o meio ambiente e as relações trabalhistas.
Com a promulgação da Carta Constitucional de 1988, a propriedade foi erigida a direito e garantia fundamental, sendo vedado ao legislador derivado retirar da mesma, tal qualidade. Contudo, esse direito não ficou irrestrito, fazendo surgir a necessidade de atender a função social presente no artigo 186, dispositivo semelhante ao trazido pelo Estatuto da Terra. A Lei n° 8.629 de 1993, ao regular a reforma agrária, fez expressa menção à função supra mencionada.
A fim de tratar da função sócio ambiental da propriedade rural, tomou-se necessária a ampla análise sobre a própria função social, visto que, este conceito engloba aquele. O que se observou foi que a relevância do tema, que tomou contornos constitucionais, inspirou o próprio Direito Civil, que passou a disciplinar a propriedade com certo abrandamento nas faculdades dela decorrente, impondo mais uma vez, a consecução da função social e, por conseguinte, a função socio ambiental.
O meio ambiente, caracterizando-se como um bem difuso, incitou a necessidade de ser preservado por toda a coletividade, motivo pelo qual o Poder Público editou várias leis nesse sentido. Destacou-se a Lei n° 6.938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, trazendo o conceito de meio ambiente em seu artigo 3°, inciso I.
Verificou-se também que em vários momentos a Constituição Federal fez menção ao meio ambiente, não se restringindo ao artigo 186, inciso II, que trata da utilização dos recursos naturais como forma de obtenção da função social da propriedade rural, incluindo também na questão concernente à ordem econômica, consagrando de vez a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento econômico.
Nesse passo, verificou-se que a função sócio ambiental da propriedade rural não se resume apenas a um “Não Fazer”, mas pode impor obrigações ao proprietário rural de fazer, não lhe concedendo o direito de dispor livremente de sua propriedade, caso esta atuação ameace o equilíbrio ecológico.
A instituição da Lei n° 9.985 de 2000, vindo com o intuito de regular o artigo 225 da atual Constituição Federal, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, preceituando ao longo do seu texto quais as unidades de conservação, assim como, impondo certas limitações às propriedades que se encontram nas situações ali presentes. O Código Florestal também trouxe algumas limitações ao proprietário ao tratar das áreas de preservação permanente e da reserva legal.
Inegável a importância do terna aqui tratado, até mesmo por ter ganhado contornos constitucionais ao relacionar o meio ambiente em vários de seus dispositivos. Contanto, embora seja ampla sua disciplina, envolvendo empenho e dedicação, precisa-se de urna maior atenção e aprofundamento, fazendo surgir em toda coletividade valores sociais que visem sanar a problemática ambiental. A partir do pleno conhecimento e conscientização, começará a surgir urna sociedade preparada para o desenvolvimento econômico em conformidade com as leis ambientais, fazendo desaparecer o direito de propriedade absoluto em detrimento de urna propriedade mais humana e voltada aos ditames de justiça social e bem – estar coletivo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
BRASIL, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 30 de Nov. de 1964.
BRASIL, Constituição da República Federativa do. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasilia: Senado Federal.
BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão. O Direito Agrário na Constituição. Forense: Rio de Janeiro, 2005.
BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do Direito Agrário. 7ª ed. Saraiva: São Paulo, 1992.
BOGO, Ademar (Org.). Teoria da Organização Política: escritos Engels, Marx, Lênin, Rosa, Mao. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2005.
COMTE, Augusto. Catecismo positivista: décima conferência – regime privado. Tradução de Miguel Lemos. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 269-281. (Sem menção do título original no exemplar utilizado).
COMTE, Augusto. Catecismo positivista: undécima conferência – regime público. Tradução de Miguel Lemos. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 283-302. (Sem menção do título original no exemplar utilizado).
COMTE, Augusto. Opúsculos de filosofia social. Tradução de Ivan Lins e João Francisco de Sousa. Porto Alegre: Globo; São Paulo: Editora da USP, 1972. 234 p. (Sem menção do título original no exemplar utilizado).
______. Código Civil Anotado. 9ª ed. Saraiva: São Paulo, 2003.
DUGUIT, Léon. Manuel de droit constitutionnel: théorie générale de l’Etat, le droit et I’ État, les libertés publiques, I’ organisation politique de Ia France. Quatrieme Edition. Paris: Ancienne Librarie Fonytemoing & Cie. Editeurs, 1923. 605 p.
DUGUIT, Léon. Traité de droit constitutionel: Ia regle de droit, le problême de I’Etat. Deuxiême Edition. Paris: Ancienne Librarie Fonytemoing & Cie. Editeurs, 1921. Tome 1. 593 p.
ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, propriedade, compropriedade ou condomínio, direitos autorais. Rio de Janeiro: Conquista, 1956. 558 p.
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 8ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1982.
FUSTEL DE COULANGES, Numa-Denys. A Cidade Antiga. Tradução. Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São Paulo: EDAMERIS, 1961.
GODOY, Luciano de Souza. Direito Agrário Constitucional. Atlas: São Paulo. 1999.
LEAL, Cézar Barros. A função social da propriedade. Fortaleza, 1981.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Tradução: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2001.
MARX, Karl. O capital: extratos por Paul Lafargue. Tradução: Abguar Bastos. 2ed. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005.
MATIOS NETO, Antonio José de. Função social da propriedade agrária: uma revisão crítica. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 20. nO. 76, p. 72-78, abr./jun. 1996.
MÉXICO. Constituicíon Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
MIRANDA, A. Gursen de. Da propriedade individual à propriedade social, 2005.
MIRANDA, A. Gursen de. Direito agrário e ambiental: a conservação dos recursos naturais no âmbito agrário. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
MIRRA, Álvaro Luiz Vallery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. Revista dos Tribunais – Revista de Direito Ambiental, nº 2: 50-60. São Paulo: 1966.
MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2001.
ONU. Declaração universal de direitos humanos de 1948.
ORRUTEA, Rogério Moreira. Da propriedade e a sua função social no direito constitucional moderno. Londrina: UEL, 1998. 346 p.
PETERS, Edson Luiz. Meio Ambiente & Propriedade Rural. Curitiba: Juruá, 2003.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Tradução: Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2007.
ANEXOS
ANEXO – A
CRÍTICAS, NORMAS E FISCALIZAÇÃO Por: Aldo Rebelo.
Segundo o parlamentar, as Organizações não Governamentais (ONGs), inclusive internacionais, têm legislado no Brasil, por meio do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama)
AGÊNCIA SENADO 17/08/2011 00h00
O deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), relator na Câmara dos Deputados do projeto do novo Código Florestal (PLC 30/2011), afirmou que as leis e a fiscalização ambientais “infernizam a vida dos agricultores”. Ele participou de audiência pública conjunta promovida por três comissões do Senado: Agricultura e Reforma Agrária (CRA), Meio Ambiente (CMA) e Ciência e Tecnologia (CCT).
Segundo o parlamentar, as Organizações não Governamentais (ONGs), inclusive internacionais, têm legislado no Brasil, por meio do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), enquanto os agricultores não fazem lobby nem se manifestam por meio de redes sociais na internet.
Umas das normas do Conama criticadas por Aldo teria impedido o plantio em várzeas, considerado pelo deputado “o berço da gricultura”. Como exemplos citou o Egito e a Ásia. No Vietnam, lembrou, o arroz é majoritariamente produzido em áreas alagadiças.
Ilegalidade
Ainda segundo Aldo Rebelo, “a exigência da reserva legal coloca na ilegalidade mais de 90% das propriedades rurais brasileiras
“Há uma deformidade na legislação, uma morbidade na legislação, que precisa ser corrigida”, afirmou, ao defender as modificações previstas no projeto, que visam regularizar atividades agrícolas realizadas em áreas de reserva legal e em Áreas de Preservação Permanente (APP).
Aldo Rebelo disse ser o Brasil o único país que obriga a manutenção de vegetação nativa em propriedades privadas. Em todos os demais, afirmou, as áreas protegidas são públicas, sendo as matas nativas preservadas em unidades de conservação como parques florestais, por exemplo.
O deputado reconheceu a existência de problemas ambientais, mas, para ele, a solução não está na obrigação de manutenção de áreas reserva legal e de preservação permanente em propriedades rurais.
Ao afirmar que o debate sobre áreas florestadas em propriedades privadas não acontece em nenhum outro país, o parlamentar disse acreditar que a defesa da manutenção das áreas preservadas esconde interesses de países desenvolvidos e de grandes grupos econômicos internacionais, que não querem o crescimento e a competição da agropecuária brasileira.
Pacto
Segundo o parlamentar o texto do novo Código Florestal aprovado pela Câmara dos Deputados em maio foi resultado de “um pacto”, sem o qual a questão permaneceria em impasse. O parlamentar disse que chegou a propor uma moratória de desmatamento por cinco anos, mas a proposta foi rejeitada por várias áreas do governo. A insatisfação das organizações ambientais com o texto do seu substitutivo foi creditada por Aldo Rebelo a um sentimento de decepção com a própria capacidade de influenciar o rumo das discussões e votações:
“As ONGs acharam que poderia peitar e derrotar o Congresso Nacional”, analisou.
Serviços Ambientais
O grande desafio do Senado será incluir no novo Código Florestal instrumentos que permitam remunerar os agricultores que mantiverem áreas florestadas em suas propriedades, os chamados serviços ambientais. Esse é o pensamento dos presidentes das comissões de Ciência e Tecnologia (CCT), Eduardo Braga (PMDB-AM), e de Meio Ambiente (CMA), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) manifestado durante a audiência com Aldo Rebelo.
– Se manter áreas de reserva legal é uma questão estratégica para o país, não se pode deixar o ônus para o agricultor – reforçou Eduardo Braga.
Em resposta, Aldo Rebelo reconheceu as potencialidades do uso de instrumentos econômicos para incentivar a preservação ambiental, mas disse ser um risco para o país substituir a produção agrícola por pagamento por serviço ambiental.
Primeiro a falar após a apresentação de Aldo Rebelo, o presidente da CRA, Acir Gurgacz (PDT-RO), apontou a vocação econômica de seu estado e defendeu a redução da reserva legal para 50% da área
ANEXO – B
A CIDADE ANTIGA ( La cité antique) Por:Levi Leonel de Souza
Fustel de Coulanges (1830-1889) foi um dos mais célebres historiadores franceses. La cité antique tornou-se um clássico da investigação histórica, abordando o tema do nascimento da cidades-Estado por meio de extensa documentação que leva o estudioso das leis, o historiador, o linguista, ou o leigo, com competência e segurança, pelo labirinto das instituições jurídicas, familiares e políticas dos dez ou doze séculos em que vigoraram o regime municipal e a religião dos antigos. A meta é ambiciosa, pois pretende colocar-se dentro da cidade antiga sem dar atenção às opiniões e fatos contemporâneos a ele. Produto de um pensamento positivista, em que se crê estar distante do objeto e podendo analisá-lo sem se misturar com ele, o autor se entrega a sua pesquisa crendo-se desapaixonado e livre. Com o correr da obra o vemos tomar o partido da cultura do último terço do séc. XIX, particularmente no último capítulo, quando fala do cristianismo, mas isso não anuvia o céu de suas pesquisas; competente, trabalhador incansável e meticuloso, nos fornece até hoje um dos mais vívidos panoramas do funcionamento das cidades gregas e romanas à época das gens, tribos e cidades-Estado.
Fustel inicia sua obra nos informando dos costumes e pensamentos a respeito da alma, da morte e a importância de se sepultar o corpo segundo extensos rituais e fórmulas pronunciadas para garantir a felicidade eterna ao falecido. As necessidades do morto são escrupulosamente satisfeitas para que este não venha a se tornar alma errante, sofrendo, assombrando e enviando doenças e má sorte à família; a morte os transformava em seres sobrenaturais e os ritos os transformavam em deuses subterrâneos. “Às almas humanas divinizadas pela morte, diz Fustel, chamavam os gregos por demônios, ou heróis. Os latinos, por sua vez, as apelidavam lares, manes, gênios”. O autor acredita que o sentimento religioso da humanidade grega e romana começou com este culto e, além disso, a própria cidade antiga deveria ser entendida como um dos resultados de seu aperfeiçoamento nos séculos que viriam, pois o fogo sagrado dedicado aos antepassados, morando no centro da casa, passou a localizar-se no centro da cidade. O deus lar era mantido e mantinha a família; se o fogo se extinguia a família toda estava extinta. Assim, seus ritos diários visavam manter ardendo essa chama que era a manifestação dos deuses familiares, seus antepassados, delineando a relação entre os mortos da família e o lar doméstico, a própria expressão do culto aos mortos. Essa religião doméstica tratava de oferecer os ritos aos antepassados de linhagem masculina de uma mesma família, excetuando todas as outras.
Depois o autor nos conduz para o seio da família, onde a religião a constitui e é seu principal esteio. Havendo uma necessária relação entre seus deuses e o solo, assentavam no chão o símbolo da vida sedentária, o lar, tomando posse de uma parte de terra que já se constitui, por esse ato, em sua propriedade. Em cada casa havia um altar e ao redor dele, toda manhã, ali se reuniam para dirigir ao lar suas orações, hinos, libações, bebidas e alimentos. O casamento foi a primeira instituição estabelecida pela religião doméstica, contudo não comunicava uma família com outra, ou os rituais de duas famílias, porque o direito de realizar os ritos era transmitido de varão para varão. A mulher, ao casar, passava a adorar os antepassados do esposo; a cerimônia de casamento a impedia de adorar os deuses de seu pai e ao mesmo tempo impunha os de outra linhagem masculina. Percebe-se que a crença na divindade dos mortos e os ritos a eles devidos foram o centro da família; se acaso o fogo, que deveria ser ritualizado por um filho, se extinguisse, toda uma legião de mortos e vivos deixariam de extrair dessas relações a vida e seus valores. Por isso o centro das preocupações domésticas era continuar a descendência, proibindo-se o celibato, divorciando-se em caso de esterilidade e mantendo-se a desigualdade entre filho e filha. O direito de propriedade era totalmente privado e fundido à religião doméstica e família. Sua religião prescrevia isolar o domínio e as sepulturas; a tradição ordenava que o lar fosse fixo ao solo e não fosse o túmulo deslocado. “Não foram as leis, mas a religião, aquilo que primeiro garantiu o direito de propriedade”, nos diz Fustel. Isso levou, salvo raras exceções, a somente o filho herdar a propriedade (lar e solo), a não existência do testamento e o pátrio poder. Segundo ele a família não recebeu da cidade suas leis, mas sim, da religião. O direito privado teria existido antes da cidade. Ao legislador foi imposta a lei originada na família onde o esposo possuía o poder de senhor do lar, de rei, de magistrado.
As famílias se juntavam em genos (gens em latim) que formavam um grupo com descendência comum e origem pura, com seus deuses comuns, o que, segundo Fustel, não se pode dizer que eram associações de famílias distintas. Usavam o mesmo patronímico vivendo num “verdadeiro corpo, o verdadeiro ser vivo, do qual o indivíduo se tornava apenas membro inseparável; assim o nome patronímico foi o primeiro em data e o primeiro em importância”. A família era um Estado organizado – com seu chefe hereditário – bastando a si própria, explorando a clientela e os escravos, podendo constituir-se de numeroso grupo, com uma religião que lhe mantinha a unidade, por meio do direito privado, leis próprias e formando extensa sociedade.
O autor prossegue definindo melhor a cidade antiga, começando pelas fratrias, cúrias e tribos. Com o alargamento das famílias foi necessário conceber uma divindade superior aos deuses domésticos que fosse comum e velasse pela fratria como um todo. O alargamento das fratrias acabou gerando a tribo com seus altares aos deuses e heróis e um direito mais complexo, não havendo, acima dela, poder social algum. As cidades foram, então, reuniões de tribos que se submetiam ao deus das famílias mais fortes e numerosas; o lar passa a ser apenas o altar de um deus maior e nisso se vê a passagem de estado de fratria ou cúria (latina) para o estado de cidade. Se no começo cada tribo, tal como fora com a família, não se comunicava com outras tribos, a cidade foi o advento de associações de tribos, guardando seus ritos, segredos e identidades. Por exemplo, em Atenas, cada pessoa era ligada a quatro sociedades distintas: a uma família, a uma fratria, a uma tribo e a uma cidade. Eram instâncias que não necessariamente se comunicavam simultaneamente; um homem quando criança pertence à família e anos depois à fratria e assim sucessivamente, até que vinha a ser iniciado no culto público, tornando-se cidadão. Mas cada família mantinha seus cultos, seu altar, seus chefes seus juízes e leis próprias; só em alguns aspectos é que funcionavam como uma cidade única, uma confederação de grupos constituídos antes da formação da cidade. “Cidade e urbe não foram palavras sinônimas no mundo antigo. A cidade era a associação religiosa e política das famílias e das tribos; aurbe, o lugar de reunião, o domicílio e, sobretudo, o santuário desta sociedade. A cidade gerava a urbe e esta era implantada de um só golpe, em um só dia”. […]“Quando as famílias, as fratrias e as tribos convencionaram unir-se e terem o mesmo culto comum, era fundada a urbe, para representar o santuário desse culto. Assim, a fundação da urbe foi sempre um ato religioso”. Escolhida e revelada pela divindade, a localização da urbe se dava com rituais que a assentavam a partir de uma cidade, que ao formar seu corpo de leis e ritos erguiam a urbe. Isto era feito pelo fundador, o homem que realizava os ritos religiosos, sem o qual não se estabeleceria a urbe. Ele era o pai da cidade e acabava por ser um deus-lar para a cidade, sendo perpetuado pelo fogo e sacrifícios anuais das vítimas cerimoniais. O governo da cidade estava sob a autoridade religiosa do rei-sacerdote, também seu chefe político. Sua autoridade política vinha de ser sagrado e isso já lhe conferia, por extensão, o poder de magistrado, fato que não surpreende, uma vez que o rei era escolhido entre os paterfamilias – os senhores do lar que reinavam absolutos nos tempos das famílias e que, na cidade, representavam a aristocracia.
A lei estava nas mãos dos pontífices que eram considerados os únicos jurisconsultos competentes por causa de sua origem religiosa. E como as leis advieram dos deuses, nada mais natural que o direito fosse exercido pelo rei pontífice, que a conhecia de ter sido iniciado por seu pai que, por sua vez ouvira de seu pai, e assim por diante. Também não “bastava habitar a urbe para se estar submetido às suas leis e pelas mesmas protegido; cumpria ser seu cidadão. A lei não existia para o escravo, como também não protegia o estrangeiro” [bem como estes não podiam] “entrar na partilha das coisas sagradas”. Ninguém poderia se naturalizar numa cidade se já pertencesse a outra urbe, sendo esta sua pátria –terra pátria. Segundo o autor a religião fazia de cada urbe um corpo, sem possibilidades de associar-se a nenhum outro. O isolamento era a lei da cidade; sua autonomia política, jurídica, governamental, religiosa e moral em relação às outras era seu bem maior. Esse formidável regime municipal, contudo, sempre esteve ameaçado pela resistência interna de clientes e escravos, bem como pelos ataques de outras cidades. Logo foi necessário uma federação de cidades para que se pudesse admitir as novas reivindicações políticas e jurídicas, bem como aplacamento das discórdias e, no limite, a expansão do poder de certas cidades, como Atenas, Esparta e Roma.
Na última parte de seu livro Fustel se dedica a mostrar o desmonte deste regime municipal por uma série de revoluções que se iniciam pela retirada da autoridade política dos reis, atitude tomada pela aristocracia, constituída de patres – os chefes de família. Em Esparta, Atenas e Roma a realeza foi alvo de constantes ataques da aristocracia – os eupátridas. Em seguida houve alterações na constituição da família, desaparecendo a primogenitura, desagregando as gens, quase sempre nos movimentos que a realeza fez para enfraquecer os iguais – os chefes das gentes. A libertação dos clientes acabou arrancando a terra à religião e entregou-a ao trabalho, já inaugurando o direito à posse, mas não, ainda, o de propriedade. Talvez a revolução mais contundente, pelo menos em extensão, tenha sido a participação da plebe no regime da cidade, colocando no poder ostiranos, chefes que não podiam ser reis, por faltar-lhes os segredos religiosos, inaugurando o poder do homem sobre o homem, com a missão precípua de proteger a plebe contra os ricos. Daí em diante a aristocracia, que não conseguia voltar ao poder, passou a colaborar com as tentativas de se instalar regimes monárquicos, organizando-se em um corpo semelhante a aristocracia e se espalhou por toda a Grécia e Itália (séc. VII ao V a.C.), distinguindo-se em classes apenas pela quantidade de riqueza. Nesse regime cada cidadão podia exercer o sacerdócio por um ano, sem privilégios de nascimento, de religião ou político. Roma foi exceção, onde o patriciado manteve o poder, criando-se o tribunado da plebe – o plebeu tornava-se ele mesmo sagrado para que pudesse legislar sobre a plebe. Esse caráter de sacralidade era transmitido de tribuno a tribuno, tendo sido doado pelos religiosos do patriciado que eram os criadores da sacralidade doravante transmitida.
O direito tornou-se público e conhecido por todos, sendo do povo a emanação do poder de promulgar leis que o legislador possuía, bem como as leis deixam de ser patrimônio das famílias sagradas. Com isso, surge a revolução democrática, onde qualquer cidadão rico poderia ser, por exemplo, magistrado, e em tese todos podiam alcançar os mais alto degraus sociais sem serem eupátridas ou patrícios. Mas também, por causa das guerras que dizimavam as classes superiores, estas foram obrigadas a oferecer armas e títulos às classes inferiores que acabaram por formar parte importante do povo. Por ser uma democracia onde todos, por direito, exerciam as funções da malha de governo, cedo acabou por desaparecer o regime democrático, sufocado pelo excesso de atribuições do cidadão e do quanto caro isso era para ser mantido. O regime municipal se esvaiu por motivos bem diversificados: as cidades-Estado se uniram, formando federações; filósofos como Pitágoras e Anaxágoras combateram as leis da cidade; os sofistas começaram a falar de uma nova justiça; Sócrates combate a tradição; as idéias de Platão e Aristóteles são contrárias ao regime municipal. Todos foram responsáveis pelo seu enfraquecimento: desde as tímidas investidas de Platão (que adorava o governo da cidade e as tradições) até as fortes posições políticas de Zenão (concebendo a idéia de Estado como composto por todo o gênero humano). Mas quem deu o toque mais profundo e duradouro nestas transformações foram os estoicistas, emancipando o indivíduo, rejeitando a religião da cidade, desdenhando da servidão do cidadão ao Estado, libertando sua consciência, incitando-o a participar da política e estimulando-o a aperfeiçoar-se intimamente (algo inexistente nos regimes anteriores).
O autor e seus contemporâneos
Ao leitor de Fustel parece que este esteve inteirado das idéias do francês Auguste Comte (1798-1857) e sua obra “Curso de Filosofia Positiva”, onde afirma que todos os fenômenos estão sujeitos a leis naturais uniformes; o projeto comtiano era fazer com as ciências sociais o que Galileu, Kepler e Newton fizeram pelas ciências naturais, fundamentando suas teorias nas leis das três etapas: ateológica (onde o homem explica os fenômenos naturais e sociais em termos divinos), a metafísica (onde a explicação está em forças abstratas) e na científica – o positivismo (explicação baseada em leis imutáveis da natureza). Segundo o positivismo, os estudos históricos se atrasaram em relação à física, matemática ou astronomia. É exatamente com essa impressão que ficamos ao ler sua obra. Tanto a de que ele tentou corrigir esse atraso, bem como o de que não foi tão positivista. Assim, o vemos declarar, de modo positivo, a respeito de crença: “Nada de mais poderoso existe sobre a alma. A crença é obra do nosso espírito, mas não encontramos neste liberdade para modificá-la a seu gosto. A crença é de nossa criação, mas a ignoramos. É humana, e a julgamos sobrenatural. É efeito do nosso poder e é mais forte do que nós” (139/140). Mas, antes (p. 2,3), disse: “Tentaremos mostrar por que regras eram regidas estas sociedades e deste modo mais facilmente verificaremos por quais razões essa mesmas regras jamais poderão voltar a reger a humanidade”. Quando pensamos em condições de produção da sociedade, em termos ideológicos, Fustel nos faz deter o pensamento, dizendo que a “causa que as produz deve ter algo de poderoso, devendo residir no próprio homem, [que] algo do próprio homem se transformou. Temos, efetivamente, algo do nosso ser a modificar-se de século em século: a nossa inteligência”. Mas, para nosso século, a identidade é um movimento na história (E. Orlandi, 1990); a inteligência, o sujeito são precipitados políticos, algo que escapa a Fustel, tanto por tentar atender ao positivismo, quanto por não ser fiel a ele, ficando no estágio metafísico de produção de conhecimento, afirmando que a cidade dos antigos, sua política, sua urbe, suas instituições jurídicas foram produtos da religião, isto é, da crença destes homens. Com isso, ele não parece ter conhecido as idéias de outro contemporâneo, dessa vez alemão: Karl Marx, teórico social, interessado na economia e história (aqui não há novidade, pois Marx só foi reconhecido já no séc. XX). Se Fustel, brilhantemente, nos mostra a luta de classes em suas entranhas, não parece disposto a dizer, segundo a agenda marxiana, que a história é a história da luta de classes e que seu fundamento é econômico; ou que “cada forma de produção [de riquezas] cria suas próprias relações de direito, formas de governo etc” (1996, p.29), preferindo centrar sua atenção na crença religiosa. Esta é que seria o motor social da família, do genos e depois da cidade-Estado. Ele crê, mais exatamente, que a economia estava a serviço da religião. Por um viés, hoje corrente, por exemplo, na teoria do discurso (Pêcheux, 1995; Orlandi, 2001), sabemos que a história deve ter como referência as condições de produção que a implica num “processo histórico determinado, em última instância, pela própria produção econômica” (Pêcheux, p.190). Termina seu livro dizendo: “Fizemos a história de uma crença. Estabelece-se a crença: constitui-se a sociedade humana. Modifica-se a crença: a sociedade atravessa uma série de revoluções. A crença desaparece: a sociedade muda de aspecto. Esta foi a lei dos tempos antigos” (p.451). Talvez Marx dissesse que o verdadeiro objeto de estudos de Fustel deveria ter sido a luta pelo poder econômico. Quando este passou de uma classe a outra a religião tratou de trazê-lo de volta ou novas religiões se fizeram necessárias para administrar essas passagens. Diga-se, também, que Fustel nos brinda com um panorama nítido do nascimento do Direito e suas instituições. Algumas das questões de sua época (que sobrevivem ainda hoje) sobre a origem de certas figuras jurídicas são tratadas com cuidado e de modo bastante consequentes. Trata-se, pois, de uma obra que bem pode auxiliar o estudioso das leis antigas.
Sua obra nos impressiona vivamente, pela obstinação em determinar seu objeto de estudos. Talvez se possa dizer de sua obra o que se disse de Marx: que é um clássico a quem nunca se adere integralmente. E se a obra marxiana obriga a releituras, a obra de Fustel, por seu turno, e pelo ofício de historiador, é uma releitura, ela mesma, da história da história.
[1] COULANGES, Fustel de. Numa_Denys. A Cidade Antiga. São Paulo: Editora Edameris, 1961.
[2] ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da propriedade privada e do Estado, 8ª ed. rio de Janeiro, 1982.
[3] MORAES, 2001, p.7.
A Lei das doze tábuas pode ser considerada a origem dos textos escritos consagrados da liberdade, da propriedade e da proteção aos direitos do cidadão.
[4] Magna Carta ou Magna Charta Libertatum, datada de 1215 na Inglaterra, ourtogada pelo Rei João Sem Terra.
[5] ROUSSEAV, Jean – Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Tradução: Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2007.
[6] MARX, Karl. O capital: Estrato por Paul Lafargue. 2ª ed. São Paulo, 2005.
[7] Absolutismo – Sistema de Governo em que o governante tem poderes absoluto.
[8] Iluminismo – Confiança na razão e nas ciências como motores do progresso
[9] Rerum Novarum: sobre a condição dos operários (em português significa “Das coisas novas” é uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII a 15 de maio de 1891. Era uma carta aberta a todos os bispos, debatendo as condições das classes trabalhadoras.
[10] Liberalismo – Atitude dos que defendem a propriedade privada, as reformas sociais graduais, as liberdades civis e a liberdade de mercado.
[11] Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – Inspirada na revolução Americana (1776) e nas idéias filosóficas do iluminismo, A Assembléia Nacional Constituinte da França revolucionária aprovou em 26 de agosto de 1789 e votou definitivamente a 2 de outubro.
[12] A Constituição Política de los Estados Unidos Mexicanos previa, em seu artigo 27, a distinção entre a propriedade originária, pertencente ao estado, e a propriedade derivada, pertencente aos particulares.
[13] Carta Política de 1988, ensejou à sociedade brasileira a potencialização do exercício da cidadania, criando mais direitos ao cidadão.
[14] Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, para dividir as terras “descobertas e por descobrir” por ambas as Coroas fora da Europa. Acesso em 22/08/2011
[15] Pau-brasil – é a designação comum de várias espécies de árvores. Caesalpinia e chinata (planta que possivelmente deu nome ao Brasil)
[16] A Constituição Imperial de 1824, foi a primeira Constituição Brasileira, foi encomendada pelo imperador D. Pedro I, e ourtogada. Acesso em 22/08/2011.
[17] Carta Magna de 1988 ou Constituição de 1988, é um conjunto de regras de governo, muitas vezes codificada como um documento escrito, que enumera e limita os poderes e funções de uma entidade política.
[18] Código Florestal, Lei n°. 4.771/65, tratou das áreas de preservação permanente e reservas legais.
[19] Propriedade, na sua formação clássica, significa os poderes de usar, gozar e dispor de uma coisa, a princípio de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Acesso em 25/08/2011.
[20] A ECO-92, consolida a necessidade de uma preservação ambiental e de um desenvolvimento sustentável.
[21] SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, instituído no Brasil, através da Lei N°. 9.985 de 18 de Julho de 2000 e está se consolidando de modo a ordenar as áreas protegidas nos níveis federal, estadual e municipal
[22] Jurisprudência – Do Latim: Jus (justo) e prudentia (prudência), é um termo jurídico que significa conjunto das decisões e interpretações das leis.
[23] PARANÁ. Tribunal de Justiça. Ação civil pública. Apelação Cível. Relator: Des. J. Vidal Coelho. 6 de fevereiro de 1995. Juis- Jurisprudência Informatizada Saraiva. CD-ROM n° 10.4 semestre/97. Apud BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função Ambiental da Propriedade Rural. In: BARROSO, Lucas de Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão. O Direito Agrário na Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.299.
[24] Positivismo – Corrente filosófica que sirgiu na França no começo do Século XIX, defende a idéia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Acesso em 21/08/2011.
[25] Duguit, 1921 – Aduz que lei social não pode ser uma lei de causa, porque se aplica aos atos voluntários e conscientes do homem.


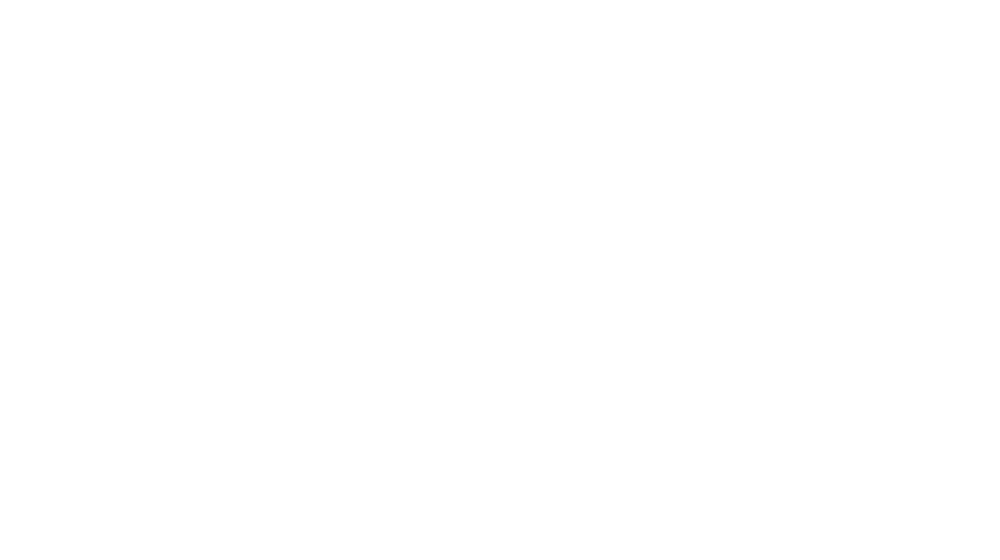
Estava pesquisando pelo assunto na Internet e acabei
encontrando esse blog e esse artigo aqui, ótimos por sinal…